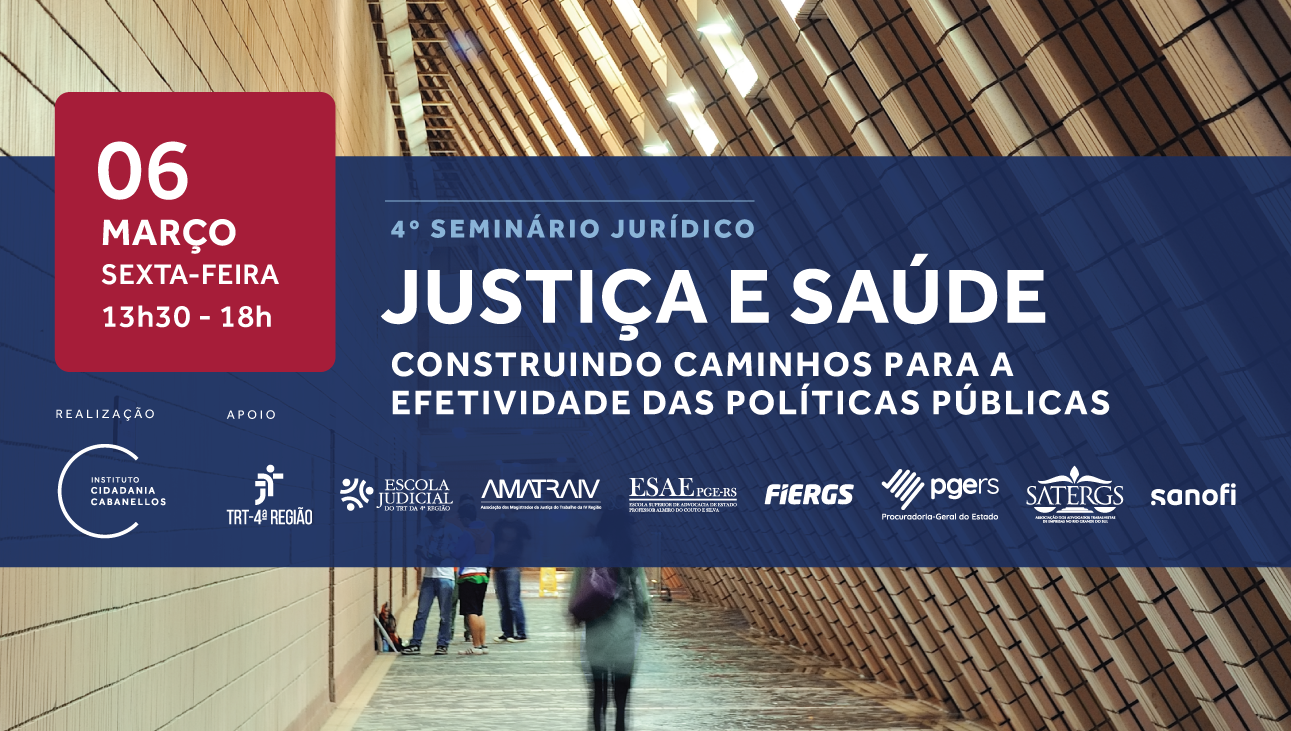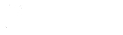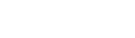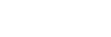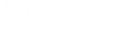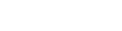Artigo: "Precisamos falar mais sobre precedentes: ratio decidendi", de autoria da juíza Juliana Oliveira
A juíza Juliana Oliveira é titular da 3ª Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul. Integra o Grupo de Estudos de Análise Jurisprudencial, da Escola Judicial do TRT-RS. É tutora do curso "Teoria e Prática de Precedentes", no âmbito do Tribunal.
Este artigo reflete a opinião pessoal da autora, não representando posicionamento institucional do TRT-RS.
 Imagine uma biblioteca em um casarão antigo, com obras em vários idiomas, datadas dos séculos XV a XXI. Esta biblioteca representa tudo o que já foi escrito a respeito de ratio decidendi. Agora, imagine resumir tal coleção em um bloco de papel, destes que cabem na palma da mão. Esta tentativa não passaria de uma síntese extrema de conceitos, teorias, técnicas e debates já publicados sobre o assunto.
Imagine uma biblioteca em um casarão antigo, com obras em vários idiomas, datadas dos séculos XV a XXI. Esta biblioteca representa tudo o que já foi escrito a respeito de ratio decidendi. Agora, imagine resumir tal coleção em um bloco de papel, destes que cabem na palma da mão. Esta tentativa não passaria de uma síntese extrema de conceitos, teorias, técnicas e debates já publicados sobre o assunto.
É isto o que me proponho a fazer nos próximos parágrafos, com o auxílio dos autores nacionais que estudaram nesta biblioteca e de alguns exemplos. O objetivo é transmitir, de forma prática e direcionada ao direito brasileiro, um pouco da essência do elemento nuclear do sistema de precedentes, a ratio decidendi.
Para tanto, vou me valer de conhecimentos já adquiridos por todos nós desde a faculdade. Um é o conceito de fato jurídico, em seu sentido amplo. Outro, a noção de que o juiz, ao proferir a sentença (ou o tribunal, ao proferir o acórdão), interpreta e aplica o ordenamento jurídico, criando norma para o caso concreto. Sempre que tratar de fato neste texto, estarei me referindo a fato jurídico; sempre que tratar de norma, estarei me referindo à norma do caso concreto.
A partir destes preceitos, é possível dizer que a ratio decidendi é composta pelos fatos do processo, mas não todos, apenas aqueles que serviram de fundamento à norma criada pelo tribunal para o caso-piloto (fatos materiais). Os fatos expressamente declarados irrelevantes pelo tribunal, ou aqueles que, implicitamente, foram descartados como suporte fático da decisão, não compõem a ratio, ainda que debatidos e provados nos autos.
Mas não são apenas os fatos materiais que integram a ratio decidendi. Ela também é composta pela norma criada pelo tribunal no caso-piloto. O tribunal, ao julgar o caso concreto, interpreta regras e princípios com base nos fatos materiais, moldando o conteúdo da ratio. Os fundamentos utilizados pelo tribunal para proferir a decisão são os elementos que nos conduzirão à interpretação da decisão para extrair a sua ratio decidendi 1.
Dada a composição da ratio decidendi, formada de fato e norma, mostra-se indispensável conhecer os fatos do caso-piloto que ensejou o precedente, e não apenas a norma emitida pelo tribunal, de forma abstrata. Tal técnica merece especial atenção diante das teses que ilustram o precedente, normalmente focadas na norma2, com forte tendência à generalização. Isso não significa que devemos desprezar a tese, que pode ser um excelente fio condutor para extrair a ratio decidendi, mas sim, que devemos interpretá-la com cautela, atentando para os fatos do processo.
O processo de identificação da ratio não é matemático. Embora as técnicas visem minimizar a imprecisão, não há garantias de que todo e qualquer intérprete identificará os mesmos fatos materiais e normas a partir de uma mesma decisão judicial. A dificuldade na identificação da ratio cresce com a complexidade do caso concreto, exigindo mais fundamentos teóricos e treino.
Uma vez extraída a ratio decidendi do precedente, esta deve ser aplicada a casos idênticos, mas também pode servir de fundamento para o julgamento de casos semelhantes. Casos idênticos são aqueles cujos fatos materiais são idênticos. Os casos semelhantes contêm um ou mais fatos que não são juridicamente idênticos, mas são suficientemente semelhantes a ponto de exigir uma solução através da mesma norma. Esta aplicação (por semelhança) é normalmente identificada pela doutrina como analogia.
A aferição de identidade ou semelhança depende do grau de generalização do fato. Por exemplo, a prestação de serviços por pessoa física é um evento da vida. Juridicamente, ele pode significar um contrato de trabalho lato sensu, um contrato de emprego ou, ainda mais restritivamente, um contrato de emprego por tempo indeterminado. Este exemplo contempla 3 níveis de generalização para o mesmo evento. A generalização que deve ser escolhida pelo intérprete para determinar a ratio decidendi é aquela que importa para a definição da norma; ou seja, é a que dá sentido à norma jurídica contida no precedente.
Explicar todos estes conceitos é mais fácil com exemplos. Para tanto, utilizarei alguns Incidentes de Recursos de Revista Repetitivos do TST (IRRs) de menor complexidade, a fim de tentar ilustrá-los. Vamos iniciar com o IRR 143 do TST3, para o qual foi enunciada a seguinte tese:
A ausência ou o atraso na quitação das verbas rescisórias, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de lesão concreta aos direitos de personalidade do trabalhador.
São fatos do processo, obtidos a partir da análise do acórdão regional, que o reclamante foi despedido e não recebeu as verbas rescisórias. A partir de tais fatos, o reclamante sustenta a existência de um dano extrapatrimonial. O TST, interpretando a legislação, concluiu que o inadimplemento das verbas rescisórias não acarreta uma evidente violação aos direitos de personalidade do empregado, obstando a presunção de dano.
Observe que, para o precedente, é irrelevante a modalidade da resilição. No caso-piloto o contrato foi rompido por iniciativa do empregador. Todavia, os fatos relevantes para a norma (fatos materiais) são apenas (1) a resilição com direito a parcelas rescisórias e (2) o seu inadimplemento lato sensu.
A qualificação dos fatos materiais em cotejo com a norma criada ajuda a definir a ratio decidendi. O fato 1 poderia ser descrito como despedida sem justa causa, em uma generalização mais restrita. O inadimplemento poderia ficar restrito à falta de pagamento (inadimplemento stricto sensu). Entretanto, tanto a tese como a norma do precedente nos indicam que a relevância está na aquisição do direito às parcelas rescisórias e no descumprimento da obrigação de quitação no valor ou no prazo estabelecido em lei, exigindo a generalização mais ampla.
Assim, a mesma ratio pode ser aplicada, por identidade, para despedida imotivada ou por justa causa, para pedido de demissão ou término de contrato por tempo determinado. Pode, ainda, ser aplicada para mero atraso (expressamente indicado na tese) ou para pagamento parcial, pois todas estas situações, embora diversas nas suas particularidades, são juridicamente idênticas para os fins da norma proposta.
Agora, passemos ao IRR 87 do TST4, com a tese abaixo:
O adicional de periculosidade é devido a trabalhador que abastece empilhadeiras mediante a troca de cilindros de gás liquefeito de petróleo (GLP), ainda que a operação ocorra por tempo extremamente reduzido.
Constata-se do acórdão regional que os fatos materiais são a periculosidade decorrente do abastecimento de empilhadeira com GLP e a exposição por tempo reduzido à condição de risco (três vezes por semana, por até dez minutos). A norma criada é que, no abastecimento de empilhadeira, o tempo reduzido configura intermitência e não eventualidade para fins de aferição da periculosidade.
Logo, em todos os processos nos quais haja reconhecimento da periculosidade pelo risco acima descrito, teremos fato idêntico capaz de exigir a mesma ratio decidendi. Se abstraíssemos a tese emitida pelo TST, poderíamos escolher uma generalização mais ampla, como a periculosidade por exposição a qualquer tipo de inflamável. Entretanto, a recomendação é sempre escolher a generalização mais restrita, quando esta for suficiente para a aplicação da norma.
A categoria jurídica mais restrita não impede a aplicação do precedente para fatos semelhantes. Assim, a mesma ratio decidendi pode ser aplicada para o contato com outro tipo de inflamável ou com outro fator de risco, dependendo da avaliação do intérprete. Todavia, nestes casos, a aplicação exige um pouco mais de fundamentação, a fim de demonstrar a congruência dos fatos e a pertinência da norma.
Antes de concluir, trago uma observação muito útil sobre a exigência de fundamentação na sentença que decide controvérsias já definidas por um precedente. O dever de fundamentar analiticamente a aplicação ou distinção de um precedente surge “quando as partes previamente se desincumbirem de seus ônus argumentativos, demonstrando logicamente a congruência entre os fatos do precedente e os do caso concreto”5. Neste sentido dispõe o art. 15 da Instrução Normativa n. 39 do TST. Nos demais casos, basta aplicar o padrão decisório preceituado pelo tribunal que o juiz se desincumbe do dever contido no art. 927 do CPC.
Encerro por aqui, mas a biblioteca é vasta e as questões são muitas. A prática suscitará as dúvidas, mas também, conduzirá ao aperfeiçoamento da técnica. Aprendi com o Grupo de Estudos que o debate enriquece o nosso repertório de argumentos e aprofunda nossa compreensão das teses. Por isso, reitero a minha provocação de que precisamos falar mais sobre precedentes.
Notas:
3 https://pje.tst.jus.br/consultaprocessual/captcha/detalhe-processo/0021391-35.2023.5.04.0271/3
4 https://pje.tst.jus.br/consultaprocessual/captcha/detalhe-processo/1000840-29.2018.5.02.0471/3
5 PRITSCH, Cesar Zucatti. Manual de prática dos precedentes no processo civil e do trabalho: uma visão interna das cortes. Leme-SP: Mizuno, 2023. p. 176.