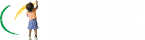Artigo: "STF - Delorean? De volta para o passado?", do desembargador Luiz Alberto Vargas
 Peço antecipadamente desculpas a todos que já assistiram, pelo menos uma vez na vida, uma aula de direito do trabalho e, assim, provavelmente já sabem o que será dito em seguida, repetindo conceitos muito conhecidos dos acadêmicos que já tenham começado a estudar a disciplina do Direito do Trabalho.
Peço antecipadamente desculpas a todos que já assistiram, pelo menos uma vez na vida, uma aula de direito do trabalho e, assim, provavelmente já sabem o que será dito em seguida, repetindo conceitos muito conhecidos dos acadêmicos que já tenham começado a estudar a disciplina do Direito do Trabalho.
- Desde que se aboliu a servidão e o trabalho humano foi formalmente declarado - mesmo sob o capitalismo-, como uma “não-mercadoria” no âmbito da relação de trabalho, a liberdade contratual é limitada pela lei, de maneira que todo aquele que utilizar a força de trabalho humano tem, como obrigação recíproca, assegurar uma contraprestação mínima ao trabalhador, não podendo dessa responsabilidade se eximir sob argumentos tão caros ao liberalismo, como a preservação dos valores da “livre iniciativa”, da “autonomia contratual” ou da “liberdade de mercado”. Trata-se de uma discussão superada desde os alvores do século XX.
- Já desde os primórdios da industrialização, o legislador social sempre se preocupou com interpretações extravagantemente ampliativas da liberdade contratual no âmbito da relação do trabalho que permitiam que terceiros se apropriassem de parte dos ganhos do trabalhador a título de “intermediação de mão-de-obra”, seja na forma de uma “corretagem” por agenciamento do trabalho, seja na forma de uma “taxa de administração” pelo gerenciamento da prestação de serviço. Assim, desde 1848 (França), a “merchandage”, como venda do trabalho humano, é condenada internacionalmente, sendo uma das mais tradicionais preocupações da Organização Internacional do Trabalho (OIT) na proteção do trabalho humano. No Brasil, é conhecida a figura do aliciador nos trabalhos temporários rurais (“atravessador” ou “gato”). A condenação explícita da “intermediação de mão-de-obra” no direito do trabalho brasileiro, por exemplo, está contida no inciso I do Enunciado 331 do TST.
- Jurando com fervor quase religioso de que de “intermediação de mão-de-obra não se tratava”, os defensores de uma “modernização da legislação trabalhista”, pelos anos setenta, passaram a defender uma nova forma de participação de intermediários na relação laboral sob a forma de uma relação triangular, em que a empresa interposta participaria apenas em “serviços especializados” (por óbvio, distintos da atividade-fim da empresa tomadora – esta seria exatamente a justificativa para negar a existência da relação empregatícia!)). Esta forma de contratação passou a se chamar “terceirização” e foi introduzida à fórceps na realidade laboral brasileira sem qualquer modificação legislativa, impondo-se pela força dos fatos a ponto de que, pela necessidade de regular minimamente a matéria, o Tribunal Superior do Trabalho editou um enunciado (n. 331), sob duas premissas básicas (na verdade, duas condições necessárias): 1) a de que não houvesse relação de subordinação/pessoalidade entre tomador e trabalhador (pois, se assim fosse haveria necessariamente, conforme a lei, relação empregatícia direta entre eles) e 2) a irrelevância para o trabalhador de que houvesse um contrato entre as empresas que, conjuntamente, se beneficiaram do trabalho humano que excluísse a responsabilidade do tomador perante os direitos laborais do trabalhador. Esta responsabilização poderia ser direta (solidária) ou, mesmo, indireta (subsidiária). Somente não poderia ser nenhuma, porque configuraria uma afronta às normas constitucionais que não admitem que o trabalho seja tratado como uma mercadoria ou, mesmo, às normas internacionais que proscrevem a intermediação de mão-de-obra.
- Dessa maneira, como consequência óbvia, nosso direito constitucional prescreve que aquele que se beneficia economicamente explorando o trabalho humano deve pagar o que determina a lei. Se for uma relação empregatícia como prevê a legislação trabalhista, certamente, em uma interpretação sistemática constitucional, não se admitiria o apelo ao “direito de propriedade”, ao “princípio da autonomia da vontade” ou ao valor social da “livre iniciativa” para obstar que a Justiça do Trabalho qualificasse uma relação de trabalho como empregatícia. Assim, ainda dizendo o óbvio, a Justiça laboral não poderia ser “proibida” de interpretar a lei laboral (no caso, os artigos segundo e terceiro da CLT) a menos que esta seja declarada inconstitucional, o que é particularmente difícil tendo em conta a importância que a Constituição reconhece ao valor social do trabalho (art. 1º, IV). Pretender uma “equiparação valorativa” com a “livre iniciativa também prevista no mesmo artigo constitucional em uma interpretação gramatical da Constituição (que diz Eros Grau, deve ser interpretada “por inteiro”) importa em uma viagem no tempo tão exótica quanto as que fazia a nave Delorean nos filmes da série “De volta para o futuro”.
Assim, chegamos a uma conclusão (talvez já não tão óbvia, mas igualmente necessária): a menos que se entenda, com base em interpretação bastante heterodoxa da Constituição de 1988, como revogadas todas as normas laborais protetivas, em especial os artigos segundo e terceiro da CLT, não será possível, nas relações terceirizadas, deixar de reconhecer a relação empregatícia direta com a empresa tomadora quando se configurem os requisitos de subordinação e pessoalidade (como dificilmente deixará de ocorrer, na prática, quando houver terceirização de atividade-fim).
Claro que, em tal interpretação constitucional ousadamente heterodoxa, poder-se-ia cogitar da inconstitucionalidade material do inciso I do Enunciado 331 do TST (que trata da vedação da intermediação de mão-de-obra), como parece ter insinuado em seu voto o Ministro Barroso na votação da terceirização em sessão do Supremo Tribunal Federal. Provavelmente, trata-se de equívoco por conta de uma interpretação muito apressada do voto ainda não publicado do ilustre Ministro. Abrir espaço para a livre intermediação de mão-de-obra faria o Direito do Trabalho retroceder ao século XIX e seria motivo de chacota para o Brasil na comunidade internacional.