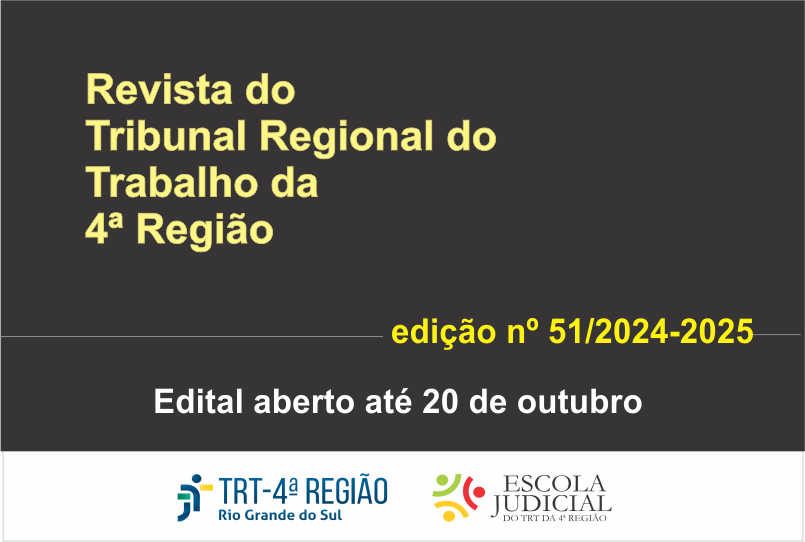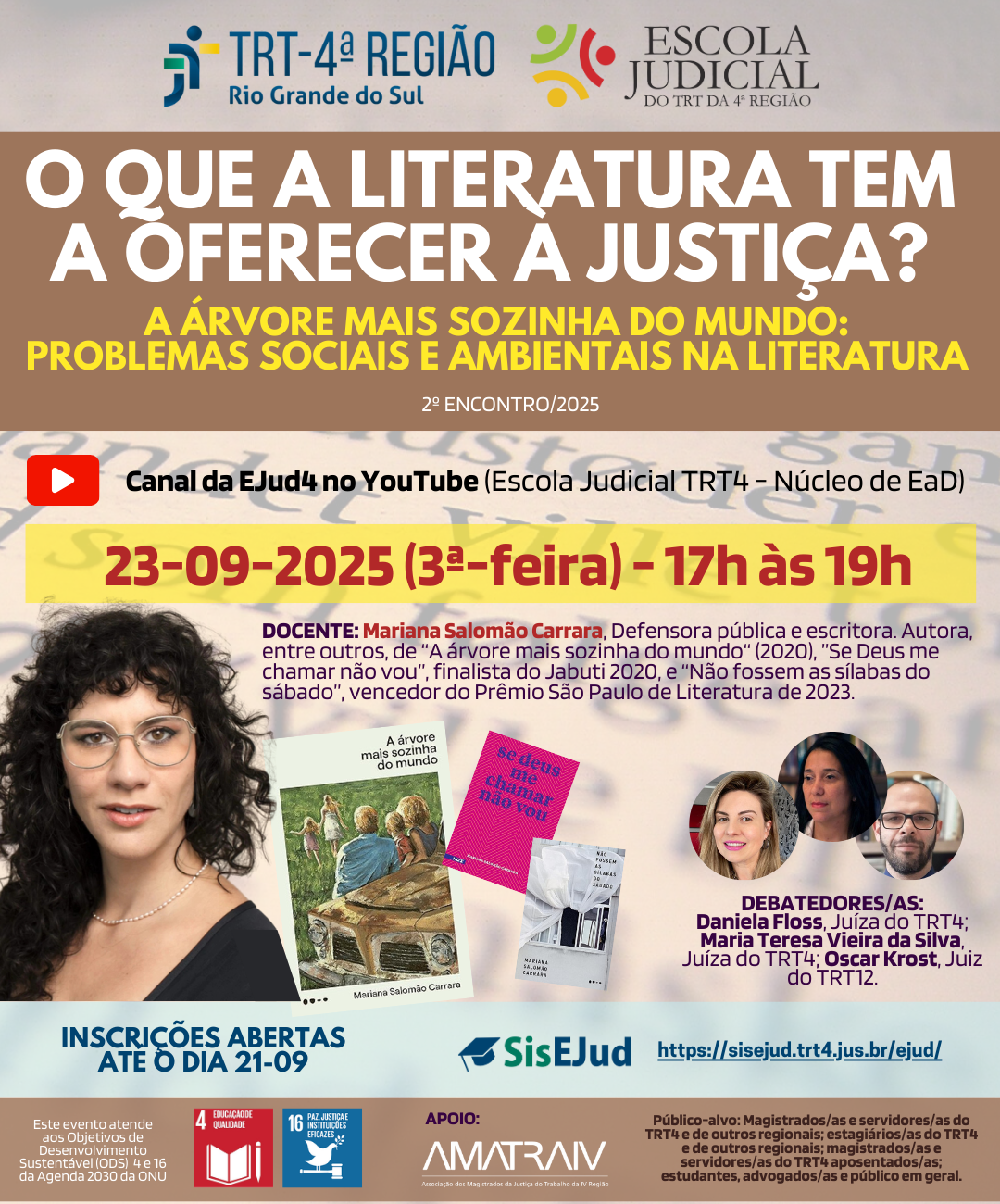Herança e sua distribuição
1. Princípios constitucionais do direito sucessório
Como garantia constitucional a ser observada em todas as relações jurídicas, o princípio da dignidade humana (artigo 1ºAbre em nova aba, inciso IIIAbre em nova aba, da Constituição FederalAbre em nova aba de 1988) não poderia afastar-se do instituto da sucessão, sendo de profunda importância para a funcionalização das situações jurídicas patrimoniais em favor das relações existenciais.
Ao mesmo tempo, imprescindível que se faça presente o princípio da igualdade perante a ampliação do conceito de família, “protegendo de forma igualitária todos os seus membros, sejam eles os próprios partícipes do casamento ou da união estável, como também os seus descendentes” (OLIVEIRA, 2005, p. 4).
A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seu artigo 5º, caput, sobre o princípio constitucional da igualdade, perante a lei, in verbis
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes.
2. Conceito e espécies de sucessão
Como lecionam Euclides Benedito de Oliveira e Sebastião Luiz Amorim
sucessão é o ato ou efeito de suceder. Tem o sentido de substituição de pessoas ou de coisas, transmissão de direitos, encargos ou bens, numa relação jurídica de continuidade. Implica a existência de um adquirente que sucede ao antigo titular de determinados valores (AMORIM; OLIVEIRA, 2006, p. 29).
Clóvis Beviláqua, por sua vez, conceitua o direito das sucessões como “o complexo dos princípios segundo os quais se realiza a transmissão do patrimônio de alguém que deixa de existir” (BEVILÁQUA, 1938, p. 2).
O entendimento a respeito da sucessão trata-se de importante conceituação para poder-se aprofundar na matéria. Vejamos.
A sucessão pode ser: legítima, quando se dá em virtude da lei (sempre a título universal, porque transfere aos herdeiros a totalidade ou fração ideal do patrimônio dode cujus); testamentária, quando decorre de manifestação de última vontade (pode ser tanto a título universal quanto a título singular); ou legítima e testamentária concomitantemente, quando o testamento não compreender todos os bens do de cujus, pois estes passarão aos herdeiros legítimos, segundo o diploma civil vigente.
A sucessão pode, ainda, ser classificada quanto aos seus efeitos: a título universal, quando o herdeiro é chamado a suceder na totalidade da herança, fração ou parte alíquota dela (pode ocorrer tanto na testamentária quanto na legítima); ou a título singular, quando o testador deixa ao beneficiário um bem certo e determinado, denominado legado, tomando este o lugar daquele em coisa certa e individuada. Por fim, existe a sucessão anômala ou irregular, que é disciplinada por normas peculiares e próprias, sem a observação da ordem da vocação hereditária estabelecida no artigo1.829 do Código Civil para sucessão legítima.
2.1 Abertura da sucessão
A sucessão é aberta no momento da morte da pessoa natural titular dos bens, sendo presumida para fins sucessórios em relação aos ausentes. É exatamente nesse momento em que ocorre a transmissão dos bens aos herdeiros legítimos e testamentários, conforme dispõe o artigo 1.784 do Código Civil.
A morte natural ou biológica é comprovada através de certidão de óbito expedida pelo oficial do registro civil do local do falecimento. Já no caso da morte presumida por ausência, a sucessão é, de início, provisória, podendo ser convertida em definitiva, nos termos do artigo 26 e seguintes do Código Civil.
2.2 Capacidade sucessória
Possui vocação hereditária aquele que tem capacidade para entrar na sucessão na qualidade de herdeiro ou legatário. A regra é que todas as pessoas têm legitimação para suceder, exceto aquelas afastadas por lei, conforme dispõe o artigo 1.798 doCódigo Civil: legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão.
Via de regra, para suceder, a pessoa deve reunir três condições: estar viva (artigos1.798Abre em nova aba e 1.799Abre em nova aba, inciso IAbre em nova aba, do Código CivilAbre em nova aba); ser civilmente capaz (artigo 1.801Abre em nova aba do Código CivilAbre em nova aba); e não ser indigna (artigo 1.814Abre em nova aba do Código CivilAbre em nova aba).
Entretanto, o novo Código Civil fez uma ressalva em relação ao princípio da coexistência ao reservar o direito sucessório também ao nascituro. Esse direito encontra-se em estado potencial, sob condição suspensiva.
Conforme leciona Carlos Roberto Gonçalves, “a regra geral segundo a qual só tem legitimação para suceder as pessoas nascidas por ocasião da abertura da sucessão encontra exceção no caso do nascituro” (GONÇALVES, 2012, p. 69).
Assim, tem-se como certo que o nascituro pode ser chamado a suceder, ficando a eficácia desse ato dependente de seu nascimento com vida, retroagindo ao momento de sua concepção no tocante aos seus interesses.
No que se refere à capacidade sucessória testamentária, preceitua o artigo 1.799 doCódigo Civil, in verbis
Art. 1.799. Na sucessão testamentária podem ainda ser chamados a suceder:
I - os filhos, ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão;
II - as pessoas jurídicas;
III - as pessoas jurídicas, cuja organização for determinada pelo testador sob a forma de fundação.
Nas palavra de Carlos Roberto Gonçalves, “diferentemente do art. 1798, que trata dos que podem ser chamados a suceder, de forma genérica e abrangendo herdeiros legítimos, testamentários e legatários, cuida o presente artigo de pessoas que só podem receber a herança ou os legados por disposição de última vontade” (GONÇALVES, 2012, p. 71).
Importante salientar, ainda, as hipóteses nas quais não se pode vislumbrar a capacidade sucessória. O artigo 1.801 do Código Civil menciona as pessoas que não podem ser nomeadas herdeiras nem legatárias, a saber
I - a pessoa que, a rogo, escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou companheiro, ou os seus ascendentes e irmãos;
II - as testemunhas do testamento;
III - o concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de cinco anos;
IV - o tabelião, civil ou militar, ou o comandante ou escrivão, perante quem se fizer, assim como o que fizer ou aprovar o testamento.
No tocante à sucessão legítima, os filhos havidos post mortem - que a lei presume como sendo do autor da herança - em hipóteses como reprodução assistida por fecundação artificial homóloga, uso de embriões excedentários da concepção artificial homóloga ou inseminação artificial heteróloga com autorização previamente concedida, apesar do reconhecimento dos filhos no plano de direito de família, o mesmo não ocorrerá no plano do direito sucessório.
2.3 Aceitação, renúncia e cessão de herança
No direito sucessório, aceitação é, segundo as palavras de Carlos Roberto Gonçalves, o “ato pelo qual o herdeiro anui à transmissão dos bens do de cujus, ocorrida por lei com a abertura da sucessão, confirmando-a” (GONÇALVES, 2012, p. 87). Essa oportunidade de deliberar conferida ao herdeiro é, de fato, segundo Walter Moraes
uma decorrência necessária da ordem das coisas. Por uma parte a transmissão imediata da herança é um imperativo de continuidade ininterrupta da vida jurídica do patrimônio do de cujus, porquanto não é admissível que tal patrimônio fique por algum tempo vago e sem titular, aberto às depredações. Por outra, contudo, repugna à índole essencial do direito o ser alguém obrigado a ingressar numa situação patrimonial nova, contra sua vontade” (MORAES, 1980, p. 53).
Disciplinando a referida situação, prescreve o art. 1.804 do Código Civil, in verbis
Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão.
Parágrafo único. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança.
A aceitação pode consistir em declaração escrita (expressa), em um comportamento que indique o acolhimento de sua condição (tácita), ou quando o herdeiro permanece silente após notificação para declaração de aceite ou não da herança – geralmente feito a pedido de outro interessado – considerando-se, assim, presumida.
A renúncia, por sua vez, é ato jurídico unilateral pelo qual o herdeiro declara, expressamente, que não deseja aceitá-la, preferindo conservar-se completamente estranho à sucessão, sendo imprescindível a observância da capacidade jurídica plena e anuência do cônjuge – se houver – do renunciante.
Dispõe o art. 1806 do novo Código Civil que “a renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial”, não podendo, portanto, ser tácita ou presumida, como acontece com a aceitação.
O instituto da renúncia pode, ainda, ser de duas espécies, a saber: abdicativa ou propriamente dita e translativa, comumente chamada de cessão – esta, por sua vez, considerada por parte da doutrina como uma desistência da herança. A propósito, preleciona Alberto Trabucchi que a verdadeira renúncia é a abdicativa, feita gratuita e genericamente em favor de todos os coerdeiros (TRABUCCHI, 1967, p. 450).
A renúncia propriamente dita perfaz-se com a ausência de qualquer ato indicativo de aceitação e sem indicação de algum favorecido, sendo devido, nessa situação, apenas o imposto causa mortis. Em contrapartida, a cessão implica aceitação e transferência posterior dos direitos hereditários, devendo-se registrar nessa espécie de renúncia a cobrança de imposto inter vivos além do causa mortis.
2.4 Herdeiros legítimos e a ordem de vocação hereditária
Herdeiros legítimos, como já explicado anteriormente, são aqueles apontados pela lei, obedecendo a vocação hereditária, disciplinada no artigo 1.829 do Código Civil de 2002, in verbis
A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;
II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;
III - ao cônjuge sobrevivente;
IV - aos colaterais.
Pela redação do inciso I do artigo supracitado, se o falecido era casado e deixou descendentes (filhos, netos etc), esses concorrem com o cônjuge do falecido, isto é, todos estão nas mesmas condições de herdeiros necessários, exceto se o cônjuge era casado com o falecido pelo regime de comunhão universal de bens ou no de separação obrigatória e, ainda, se no regime de comunhão parcial de bens o falecido não houver deixado bens particulares (pertencentes exclusivamente a um dos cônjuges, adquiridos antes ou depois do casamento, por herança ou doação, bem como os sub-rogados).
Nesse caso, o cônjuge, além de concorrer na primeira e segunda classes sucessórias, dependendo do regime de bens adotado, é considerado herdeiro necessário com direito à herança (inciso III do artigo 1.829). Os artigos 1.832 a 1.837do Código Civil dispõem sobre a quota que caberá ao cônjuge no caso de concorrência com os ascendentes ou descendentes. Como exemplo no caso do inciso II, se o patrimônio do falecido (fora a meação da esposa) é avaliado em R$100.000,00 (cem mil reais) e ele deixou esposa e três filhos, a herança será dividida na proporção de 1/4 (um quarto) à esposa, e ¼ (um quarto) a cada filho. Se o falecido deixou mais de três filhos, a esposa ainda terá direito a ¼ (um quarto) e o restante será dividido pelos demais filhos, conforme artigo 1.832 do Código Civil.
Pelo inciso II, se o falecido não deixou filhos ou netos, mas pai ou mãe vivos, esses concorrem com o cônjuge do falecido, não importando o regime de bens.
No inciso III, se o falecido não deixou ascendentes nem descendentes, a herança será destinada ao cônjuge sobrevivente, não importando o regime de bens, desde que não esteja separado judicialmente, ou de fato há mais de dois anos do falecido, conforme disposto no artigo 1.830 do Código Civil.
O inciso IV, por sua vez, prescreve que se o falecido não era casado nem deixou descendentes ou ascendentes, são chamados a suceder os colaterais até o quarto grau, que são os irmãos (1º grau), sobrinhos (2º grau), tios (3º grau) e primos (4º grau).
3. Companheiro como sucessor regular
Em decorrência de o novo Código Civil não contemplar o companheiro como herdeiro necessário em seu artigo 1.845 e também não o mencionar no artigo 1.850, que fala sobre a exclusão dos herdeiros não necessários, ainda existe certa obscuridade no tratamento da sucessão em uniões estáveis, ficando o companheiro limitado aos bens adquiridos onerosamente na constância da união, sem prejuízo da parte que lhe cabe por meação.
O artigo 1.790 do Código Civil de 2002, em seu caput, limita a participação do companheiro na sucessão do falecido apenas aos “bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável”. Assim, como premissa, deve-se dividir o patrimônio do companheiro falecido em dois blocos distintos: o primeiro será composto apenas pelos bens móveis e imóveis que o falecido adquiriu onerosamente depois de iniciada a união, são os bens comprados pelo falecido ou os que ele recebeu em dação em pagamento. O segundo bloco será composto dos bens existentes antes do início da união, ou mesmo aqueles adquiridos a título gratuito (doação, sucessão) após o início da união.
Essa limitação, há que se reconhecer, incidiu em grave injustiça, como muito bem explicitado por Luiz Felipe Brasil Santos[1]Abre em nova aba nos termos que se seguem
Há grave equívoco aqui, que pode conduzir a situações de injustiça extrema. Basta imaginar a situação de um casal, que conviva há mais de 20 anos, residindo em imóvel de propriedade do varão, adquirido antes do início da relação, e não existindo descendentes nem ascendentes. Vindo a falecer o proprietário do bem, a companheira não terá direito à meação e nada herdará. Assim, não lhe sendo mais reconhecido o direito real de habitação nem o usufruto, restar-lhe-á o caminho do asilo, enquanto o imóvel ficará como herança jacente, tocando ao ente público.
O autor apresenta, como solução a essa injustiça, a seguinte linha interpretativa[2]Abre em nova aba
Para evitar tal situação de flagrante injustiça, creio que a interpretação deverá aproveitar-se de uma antinomia do dispositivo em exame. Ocorre que, enquanto o caput do artigo 1.790 diz que o companheiro terá direito de herdar apenas os bens adquiridos no curso do relacionamento, o seu inciso IV dispõe que, não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. Ora, a expressão totalidade da herança não deixa dúvida de que abrange todos os bens deixados, sem a limitação contida no caput. Evidente a antinomia entre a cabeça do artigo e seu inciso. Entretanto, uma interpretação construtiva, que objetive fazer acima de tudo justiça, pode extrair daí a solução que evite a injustiça e o absurdo de deixar um companheiro, em dadas situações, no total desamparo. Portanto, não havendo outros herdeiros, o companheiro, por força do claro comando do inciso IV, deverá receber não apenas os bens havidos na constância da relação, mas a totalidade da herança.
Maria Helena Diniz apresenta uma construção interpretativa mais técnica sobre esse impasse, qual seja
Há quem ache que, na falta de parente sucessível, o companheiro sobrevivente teria direito apenas à totalidade da herança, no que atina aos bens onerosamente adquiridos na vigência da união estável, pois o restante seria do Poder Público, por força do art. 1844 do Código Civil. Se o Município, o Distrito Federal ou a União só é sucessor irregular de pessoa que falece sem deixar herdeiro, como se poderia adquirir que receba parte do acervo hereditário concorrendo com herdeiro, que, no artigo sub examine, seria o companheiro? Na herança vacante configura-se uma situação de fato em que ocorre a abertura da sucessão, porém não existe quem se intitule herdeiro. Por não existir herdeiro é que o Poder Público entra como sucessor. Se houver herdeiro, afasta-se o Poder Público da condição de beneficiário dos bens do de cujus, na qualidade de sucessor. Daí o nosso entendimento de que, não havendo parentes sucessíveis receberá a totalidade da herança, no que atina aos adquiridos onerosa e gratuitamente antes ou durante a união estável, recebendo, inclusive, bens particulares do de cujus, que não irão ao Município, Distrito Federal ou à União, por força do disposto no art. 1844, 1ª. Parte, do Código Civil, que é uma norma especial. Isto seria mais justo, pois seria inadmissível a exclusão do companheiro sobrevivente, que possuía laços de afetividade com o de cujus, do direito à totalidade da herança dando prevalência à entidade pública. Se assim não fosse, instaurar-se-ia no sistema jurídico uma lacuna axiológica. Aplicando-se o art. 5ºAbre em nova aba. Da Lei de Introdução ao Código Civil, procura-se a solução mais justa, amparando o companheiro sobrevivente (DINIZ, 2004, p. 133-134).
Quanto aos bens sobre os quais o companheiro tem a meação decorrente da comunhão parcial, terá também direito à sucessão e com relação aos bens particulares, o companheiro não tem a meação e nem direito à sucessão.
Ainda, de acordo com o artigo 1.790, inciso I, em concorrência com filhos comuns, o companheiro terá direito a uma quota equivalente à que por lei for atribuída à prole. Filhos comuns devem ser compreendidos como aqueles que são filhos tanto do falecido quanto do companheiro herdeiro. Assim, a companheira é mãe dos herdeiros com quem concorre. Nessa hipótese, a lei determina que o companheiro (herdeiro) receba quota equivalente àquela dos filhos. Exemplificamos: se o companheiro ao falecer tinha dois bens (bem particular e um bem comum) e deixou dois filhos e sua companheira, os bens serão partilhados assim: do bem particular, 50% para cada filho, não havendo meação nem concorrência, e do bem comum, 50% para companheira a título de meação e 50% divididos em três partes iguais (uma para cada filho e uma para a companheira).
Importa ressaltar que a lei não fala em descendentes comuns, mas sim em filhos comuns. Se o companheiro concorrer apenas com descendentes do falecido (são os chamados filhos exclusivos[3]Abre em nova aba), determina o artigo 1.790 que tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles. Portanto, o companheiro dividirá a herança com aqueles que não são seus parentes consanguíneos.
O novo Código Civil não disciplinou a hipótese de existência concomitante de filhos exclusivos e comuns, e a doutrina, segundo Maria Helena Diniz, apresenta as seguintes soluções: i.considerar tais filhos como comuns, dando ao companheiro supérstite quota equivalente à deles; ii.identificar os referidos descendentes como exclusivos do de cujus, conferindo ao companheiro supérstite a metade do que caberia a cada um deles; iiiAbre em nova aba[U1]Abre em nova aba.conferir ao companheiro sobrevivente uma quota (em concorrência com filhos comuns) e meia (em concorrência com descendentes exclusivos do autor da herança); iv.subdividir, proporcionalmente, a herança conforme o número de descendente de cada grupo em concorrência com o convivente (DINIZ, 2004, p. 134-135)
Segundo os ensinamentos da doutrinadora citada, a segunda solução é a mais justa e adequada aos ditames constitucionais e legais, uma vez que aplicando os artigos 4ºe 5º da Lei de Introdução ao Código Civil (sic) e o princípio constitucional da igualdade dos filhos, insculpido no artigo 227, parágrafo 6º, da Constituição Federal, deve-se valer do vínculo da filiação do autor da herança e não privilegiar, em detrimento do filhos exclusivos, o existente com o companheiro sobrevivente, que terá, nessa hipótese, direito à metade do que couber a cada um dos descendentes dode cujus (DINIZ, 2004, p. 133).
Ademais, as outras soluções não correspondem aos objetivos legais e constitucionais, haja vista que, como demonstrado, a primeira solução prejudicaria os filhos exclusivos do de cujus que não detêm nenhum laço de parentesco consanguíneo com o companheiro sobrevivente privilegiado na partilha; a terceira solução, apesar de atender aos reclames do artigo 1.790, incisos I e II, acarretaria grande prejuízo aos descendentes, pois cada um receberia uma quota única e o companheiro receberia um quinhão equivalente a uma quota e meia; e a quarta solução geraria a existência de desigualdade de quinhões dos filhos de um grupo com os do outro grupo, violando, assim, o artigo 1.834 do Código Civil.
Por fim, o inciso III do artigo 1.790 do Código Civil conferiu ao companheiro o direito a um terço da herança, ou melhor, dos bens onerosamente adquiridos na vigência da união estável, quando concorrer com outros parentes sucessíveis, o que, no entendimento de Luiz Felipe Brasil Santos[4]Abre em nova aba
consagra outra notável injustiça. Concorrendo com parentes colaterais, o companheiro receberá apenas um terço da herança. E, destaque-se, um terço dos bens adquiridos durante a relação, pois, quanto aos demais, tocarão somente ao colateral. Assim, um colateral de quarto grau (um único "primo irmão") poderá receber o dobro do que for atribuído ao companheiro de vários anos, se considerados apenas os bens adquiridos durante a relação, ou muito mais do que isso, se houver bens adquiridos em tempo anterior.
Superada a questão do artigo 1.790 e incisos do Código Civil, outra questão controvertida a respeito da sucessão do companheiro refere-se ao direito real de habitação sobre o imóvel do casal, que o aludido diploma legal não deixa expressamente consagrado. Em que pese o silêncio do legislador, prevalece o entendimento pela manutenção de tal direito sucessório. Nesse sentido, o Enunciado 117 CJF/STJ, da I Jornada de Direito Civil: "o direito real de habitação deve ser estendido ao companheiro, seja por não ter sido revogada a previsão da Lei nº9.278/96, seja em razão da interpretação analógica do art. 1.831, informado pelo art. 6º, caput, da CF/88Abre em nova aba".
É a posição da jurisprudência pátria, havendo inúmeros julgados[5]Abre em nova aba que concluem pela manutenção do direito real de habitação a favor do companheiro. De toda sorte, a conclusão não é unânime, pois há quem entenda que tal direito não persiste mais, tendo o legislador silenciado sobre o assunto.
Cumpre, por fim, observar que, ante essas lacunas apontadas, imperioso se faz aos operadores do direito que empenhem a prudência e o bom senso para supri-las, de modo a evitar injustiças e desigualdades no âmbito das relações familiares.
[1]Abre em nova abaSANTOS, Luiz Felipe Brasil. A sucessão dos companheiros no novo código civil. Disponível em: http://www.ibdfam.com.br/inf_historico.asp?CodTema=59&Tipo=1Abre em nova aba. Acesso em: 23.05.2013.
[2]Abre em nova abaIbidem.
[3]Abre em nova aba Filhos exclusivos são filhos apenas do falecido, mas não da companheira sobrevivente.
[4]Abre em nova aba SANTOS, Luiz Felipe Brasil. A sucessão dos companheiros no novo código civil. Disponível em: http://www.ibdfam.com.br/inf_historico.asp?CodTema=59&Tipo=1Abre em nova aba. Acesso em: 23.05.2013.
[5]Abre em nova aba TJSP, Agravo de instrumento nº 990.10.007582-9, Acórdão n. 4569452, Araçatuba; Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. De Santi Ribeiro, julgado em 29/06/2010, DJESP 28/07/2010; TJRS, Apelação cível n. 70029616836, Porto Alegre, Sétima Câmara Cível, Rel. Des. André Luiz PlanellaVillarinho, julgado em 16/12/2009, DJERS 06/01/2010, pág. 35; TJSP, Apelação n. 573.553.4/2, Acórdão n. 4005883, Guarulhos, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ênio SantarelliZuliani, julgado em 30/07/2009, DJESP 16/09/2009.