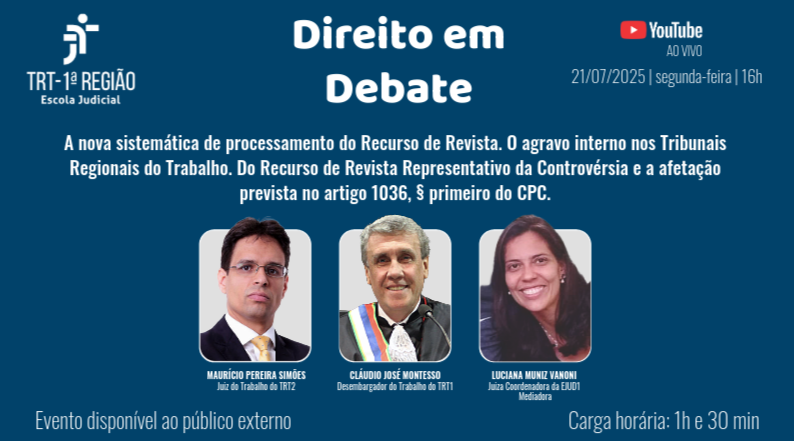Da reparação por danos morais no caso de abandono afetivo
Resumo
A monografia teve como objetivo geral descrever sobre a possibilidade de pagamento de indenização por danos morais em caso de abandono afetivo dos pais para com os filhos. Destacou-se também os novos entendimentos sobre a família e o afeto nas relações familiares decorrentes das alterações trazidas no Código Civil de 2002. O tema se justifica pois é fato que a sociedade e toda a classe jurídica como um todo, muito tem sido discutido, atualmente sobre a existência de uma nova família, de uma nova relação de parentesco e consequentemente de um novo papel a ser desempenhado pelo homem ao ingressar na paternidade. Percebe-se que o Poder Judiciário não pode obrigar ninguém a ser pai, no entanto aquele que optou em ser pai, principalmente no que se refere a filhos vindos de casamentos tradicionais jamais deve se desincumbir desta função, principalmente em casos de dissolução da sociedade conjugal, pois o filho nada tem a ver com o fim do casamento ou da relação afetiva entre os pais. A função paterna abrange amar os filhos, portanto não basta ser um pai biológico ou prestar alimento aos filhos. Ser pai é aquele que realmente é responsável pelo filho e pelo seu equilíbrio emocional e psíquico.
Descritores: Família, indenização, dano moral, abandono afetivo, filhos.
1 Introdução
O presente trabalho tem como foco principal a problemática que envolve a possibilidade de indenização por danos morais em casos de filhos abandonados afetivamente pelos pais.
A hipótese levantada é de que existe tal possibilidade, baseado no poder familiar e na responsabilidade dos pais diante da educação e da guarda dos filhos, de acordo com o art. 227 da CF, art. 1.634CC e art. 22 do ECA. Ressalta-se ainda, a corrente que considera que o abandono afetivo fere o princípio da dignidade humana esculpido no art. 5 da Constituição de 1988.
A escolha do tema em questão se baseia na aceitação ou não de danos morais em face à ausência de afetividade paterno-materna. Este tema é relevante, pois tem provocado inúmeras discussões no meio jurídico e nos tribunais.
Tem se destacado na sociedade moderna o questionamento acerca da possibilidade, ou impossibilidade, da responsabilização civil por abandono afetivo oriundo das relações familiares. Revela-se, no mínimo, hipótese de indagação se os transtornos psicológicos provenientes da falta de afeto no seio familiar são capazes de implicar sequelas que originariam reparação à pessoa humana sofredora de uma determinada conduta comissiva ou omissiva.
Destaca-se que há uma parte doutrinária e jurisprudencial que fundamenta que o abandono afetivo fere o princípio da dignidade humana e o princípio da afetividade, trazendo danos morais e psíquicos ao filho abandonado. Nesse caso, considera-se a questão passível de indenização. Por outro lado, há uma parte da doutrina e ainda jurisprudencial que defende a impossibilidade de indenização, visto que tal questão pressupõe a prática de ato ilícito devendo ainda ser comprovado os elementos de culpa.
Hoje em dia a base da constituição familiar é o afeto e a criança tem o direito de conviver com os pais, mesmo caso estes se separem. Mas a prática muitas vezes faz com que um dos progenitores (em geral o pai) se afaste da criança e se atenha a apenas cumprir a responsabilidade de prover alimentos, ou seja, cumpre a sua obrigação em fornecer a pensão alimentícia do filho e não cumpre devidamente o seu dever de educar, dar afeto e estar presente na vida e no crescimento de seu filho.
Percebe-se a relevância do tema a ser desenvolvido uma vez que abordará os limites da responsabilização dos pais, apontando para uma discussão sobre seus os deveres, que vão para além da satisfação das necessidades de sobrevivência dos filhos.
Cabe dizer que as decisões judiciais tem mostrado que de fato cabe indenização por danos morais ao filho abandonado afetivamente, já que além de seus direitos, considera-se a existência de uma série de transtornos sociais e psicológicos causados a este filho abandonado.
Por outro lado, existe uma parte da doutrina e até profissionais da psicologia que entendemque a indenização não assegura o recebimento do afeto. Possivelmente, um litígio desta dimensão pode ensejar, ainda mais, o afastamento entre as partes, uma vez que é impossível obrigar alguém a amar. Fica, contudo, o caráter educativo, reparador, garantidor da pessoa humana, da eficaz proteção aos filhos.
Vê-se então que o assunto é polêmico e merece ser visto com maiores detalhes.
A sociedade tem evoluído de forma bastante acelerada, fazendo com que surjam novos conflitos e interesses, especialmente no que diz respeito aos conflitos familiares. Tendo em vista que é no direito de família que ocorrem as maiores mudanças sociais, verifica-se a dificuldade do ordenamento jurídico em acompanhá-las.
A presente monografia utilizou-se da técnica de pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica, de acordo com Vergara (2006, p. 48), é conceituada como “o estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral”.
Para a coleta de dados foram utilizados livros e leis, bem como em banco de dados virtuais, científicos de auto confiabilidade, tendo como teoria mais relevante pautada no argumento da autoridade. Os principais autores utilizados foram Maria Berenice Dias, Maria Helena Diniz, Giselda Maria Fernandes Hironaka, José Inácio Parente e Maria Cláudia Silva.
Foi utilizado o método hipotético dedutivo para a verificação da hipótese de cabimento de indenização ao filho abandonado afetivamente pelo pai.
Foi também utilizada a pesquisa descritiva A pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlaçõesentre variáveis e definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação (VERGARA, 2006, p. 47).
Para complementar o estudo foram apresentados casos ocorridos no Brasil recentemente e as respectivas decisões judiciais.
2 Direito de família e relações familiares
2.1 A evolução social e jurídica do Direito de Família
De acordo com Gonçalves (2005) há muitas décadas a sociedade luta por modificações no Direito Civil e no Direito de Família, visto que grande parte do texto contido no Código Civil, mesmo com as modificações ocorridas em 2002, ainda possuem bases na antiga visão jurídica do inicio do século XX.
O conceito de família e sua formação como núcleo social é um dos assuntos mais discutidos já que até recentemente jurídica e socialmente a família se formava a partir da união do homem e da mulher onde o homem era o provedor econômico do sustento da família, cabendo a ele o dever de providenciar os meios necessários para a família se alimentar, se abrigar e ter segurança. A mulher era responsável em cuidar dos filhos e da casa exercendo o papel de mãe e dona de casa (FREITAS; ROSENVALD, 2008).
Nota-se então que no Brasil a família se formalizava a partir do casamento civil que consta de um ato onde o homem e a mulher assinam um contrato formal na presença de um juiz e de testemunhas.
De acordo com Maria Berenice Dias (2010) o Código Civil de 1916 reconhecia a formação de uma família somente a partir do casamento civil ficando todos os membros deste núcleo protegidos pelo Estado que resguardava os direitos dos filhos, da mulher e do marido em diferentes questões, como na partilha de bens, por exemplo (DIAS, 2010).
Mas, ao longo dos anos inúmeras transformações políticas, econômicas e sociais contribuíram para que significativas mudanças nessa concepção fossem propostas.
A título de exemplo pode-se citar a aprovação da lei do divórcio e o movimento feminista ocorrido na década de 70, a entrada da mulher no mercado formal de trabalho intensificada a partir também essa época e a publicação da Constituição de 1988 que celebrou de vez a ampliação do conceito de família e trouxe a tona novas formações familiares formalmente reconhecidas tanto no mundo jurídico como no meio social (DIAS, 2010).
Além dessas é claro que as modificações ocorridas no Código Civil em 2002 trouxeram uma nova concepção sobre a família e sobre os direitos de seus membros incluindo os filhos.
Deve-se aqui destacar também que a aprovação do Estatuto da Criança e Adolescente (Lei n. 8.069Abre em nova aba/1990) representou também uma série de avanços no que se refere às garantias dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, o que inclui o direito de ter uma família, educação e afeto.
Mas, mesmo com as modificações ocorridas na lei, constantemente a mídia ainda veicula noticias que se relacionam diretamente ao Direito de Família, especialmente questões sobre a partilha de bens em caso de união estável (forma de casamento juridicamente reconhecida a partir da CR/88Abre em nova aba e CC/02Abre em nova aba), educação e guarda dos filhos, pensão alimentícia, dentre outras.
Outra questão ainda alvo de discussões e polêmicas refere-se a paternidade, mesmo esta, de acordo com \ ter sido pacificada também a partir das modificações nas citadas leis.
Hoje, qualquer criança tem o direito de ter a paternidade reconhecida e a partir de então, ambos os progenitores (pai e mãe) passam a ter os mesmos direitos e deveres para com este filho tido a partir de um casamento civil ou união estável ou não (DINIZ, 2009).
Para Orlando Gomes (2008) não há que se discutir hoje em dia a respeito da equiparação de direitos e deveres entre homens e mulheres pois este é um assunto já pacificado e definido tanto no meio jurídico quanto pela própria sociedade.
Por outro lado, com relação a família e as relações que ocorrem neste núcleo os avanços trazidos pela CR/88, CC/02 e até pelo ECA, ainda não conseguiram fazer com que grande parte da sociedade compreenda a importância do afeto e este assunto é discutido e apresentado no tópico a seguir.
2.2 O afeto nas relações familiares
Conforme descreve Maria Berenice Dias (2010), ao longo dos anos o direito de família sofreu importantes transformações, com o objetivo maior de atender às constantes evoluções sociais como a revolução sexual, a entrada da mulher no mercado de trabalho, o declínio do patriarcado, dentre outros.
Com relação à formação familiar é preciso considerar que hoje, a visão de família é muito diferente da visão existente no início do século passado, onde a família era essencialmente formada para satisfazer um núcleo econômico e reprodutivo. A família de hoje é formada através de laços de amor e afeto, onde a sexualidade vai; muito além da reprodução da espécie humana (DIAS; PEREIRA, 2003).
Relacionando o afeto à instituição familiar e ainda demonstrando a importância deste núcleo à formação e desenvolvimento de um indivíduo Faschinetto (2009, p. 42) descreve: “é na família que o ser humano aprende as primeiras noções sobre verdade, sobre o bem e o mal, e ainda descobre o que significa amar e ser amado, fatos que serão determinantes na formação de sua personalidade”.
Ana Carolina Brochado Teixeira afirma que ‘‘se uma criança veio ao mundo – desejada ou não, planejada ou não – os pais devem arcar com a responsabilidade que esta escolha (consciente ou não) lhes demanda.’’ (TEIXEIRA, 2005, p 156). A ausência do pai na vida do filho pode gerar prejuízos em seu desenvolvimento emocional, cognitivo e comportamental.
Segundo Silva (2004, p. 05) "a partir da inclusão das diversas formas de família, conclui-se que o elo entre os componentes são o afeto, o respeito, a vontade de seguir juntos, o tratamento igualitário etc.". O elo biológico ou genético, não mais sustenta a base familiar.
A esse respeito, destaca-se a opinião de Faschinetto (2009 p. 51):
O afeto é hoje indubitavelmente o marco da união dos integrantes da entidade familiar e não laços meramente formais, por isso o instituto da família deve ser repensado pelo Direito e tratado por todos os seus ramos de forma igualitária, a fim de que não se permita ignorar sua relevância para o homem.
O que se constata, portanto, é uma verdadeira mudança nos conceitos sociais e que apontam sempre para o afeto como norteador da família atual, sendo este efetivamente o elo mais importante a determinar a profundidade do relacionamento entre as pessoas e, por conseguinte sua estabilidade e compromisso conjunto em assumir os desafios da vida.
Mas, a questão do afeto nas relações familiares extrapola o conceito e até as considerações apresentadas até o presente momento já que este é um sentimento e conforme o entendimento de Faschinetto (2009) o afeto é um sentimento e nesse caso existe uma grande dificuldade em se mensurar até que ponto este é de fato um dever ou apenas uma emoção expressada por pessoas que se amam.
Independentemente da polêmica que envolve a compreensão do que de fato vem a ser o afeto, o Direito Brasileiro, especialmente a partir do ECA garante às crianças e adolescentes o direito de receber afeto e cabe aos pais e a família prover este direito, bem como uma série de outros direitos que serão vistos no tópico a seguir.
2.3 Considerações sobre o dever dos pais em dar afeto ao filho
A Constituição da República em seu art. 227Abre em nova abacaput dispõe que:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988).
Nota-se que a Constituição cunhou a convivência familiar, como um dever dos pais para com os filhos e dessa forma Silva (2004, p. 37) “ensina ainda que mais do que nunca a relação paterno filial assume destaque nas disposições sobre a temática da família”.
Além disso, no Código Civil, em seu art. 1.634 do Código Civil dispõe que: “Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: I - dirigir-lhes a criação e educação; II - tê-los em sua companhia e guarda (...)"(DIAS, 2010, p. 239).
A partir deste artigo, Pereira (2007) descreve que alguns doutrinadores entendem ser este o “princípio da afetividade”, que inclusive decorre do princípio da dignidade humana, a base maior do Estado Democrático de Direito.
Dias (2010) complementa então que uma parte da doutrina entende que, os pais ou responsáveis devem fornecer aos seus filhos o afeto, isto é, a presença amorosa, o cuidado, ainda que o responsável não seja aquele que está com a guarda, este deve procurar estar presente nas oportunidades que lhe são oferecidas.
A esse respeito também é o entendimento de Maria Celina Moraes (2007) quando esta autora diz que:
A dignidade da pessoa humana vista sob uma acepção moral e jurídica está intimamente ligada às relações humanas, às quais implicam um recíproco dever de respeito, para que as pessoas sintam valorizadas, seguras no meio social as quais estão inseridas. No concernente às crianças, tem-se que o primeiro lugar onde estabelecem as relações sociais é no seio da família, a mais importante instituição na formação do ser humano (MORAES, 2007, p. 85).
Isso significa segundo Parente (2006) que moral e eticamente não basta ao pai ou à mãe apenas pagar uma pensão que garanta o sustento de seu filho. É preciso que este pai, ou mãe estejam presentes na vida do seu filho, participando de sua educação, auxiliando-o em momentos cruciais para tomar decisões que visem seu bem-estar e crescimento e ainda apoiando-os psicologicamente.
A esse respeito Silva (2004, p. 123) discorre:
No seio da entidade familiar, não há que se contentar única e exclusivamente com a coexistência diária e constante. Os genitores na assunção de seus papéis de pais devem cuidar para que seus encargos não se limitem ao aspecto material, ao sustento. Alimentar o corpo sim, mas também cuidar da alma, da moral, do psíquico. Estas são as prerrogativas do poder familiar e, principalmente da delegação divina de amparo aos filhos.
Conforme cita Silva (2004, p. 123):
A convivência e a afetividade traduzida no respeito de cada um por si e por todos os membros, a fim de que a família seja respeitada em sua dignidade e honorabilidade perante o corpo social, é, sem dúvida alguma, uma das maiores características da família atual.
O dever dos pais e da família para com os filhos está também esculpido na Lei n.8.069/90 conhecida como Estatuto da Criança e Adolescente – ECA. Segundo o art. 4º in verbis:
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1990).
Parente (2006) analisa que já nas primeiras linhas do ECA, é possível observar o dever de proteger, educar, alimentar e respeitar as crianças e adolescentes. Dever este que em primeiro lugar é da família e depois da sociedade como um todo.
Prevê também o art. 22 do ECA que “Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores” (BRASIL, 1990). Então, os genitores são, pois, os responsáveis pela criação, formação, desenvolvimento e proteção dos filhos. Devem prover à prole atenção, carinho e afeto.
Por outro lado, não se pode deixar de mencionar outra parte da doutrina que se mostra contra os posicionamentos citados anteriormente. Pereira (2007) diz que há uma parte dos juristas que acredita que não há no ordenamento jurídico previsão de obrigatoriedade para a questão da afetividade. “O principal argumento utilizado é que uma vez oferecida a prestação alimentícia, o progenitor que não detém a guarda estará livre de quaisquer outras obrigações” (PEREIRA, 2007, p. 94).
Além disso, entendem tais juristas que a lei não pode obrigar ninguém, nem mesmo o progenitor a sentir afeto pelo filho, sendo impossível impor a manutenção de um laço sentimental já rompido e impossível indenizar alguém financeiramente por motivo de abandono (PEREIRA, 2007).
Importa dizer que para que de fato o abandono do pai configure em responsabilidade civil é preciso que no momento da ação sejam provados os elementos dessa responsabilidade, a culpa, o dano e o nexo causal e isso, conforme destaca Groeninga (2005) não têm sido tarefa fácil diante das inúmeras adversidades que uma separação conjugal possui.
Por outro lado, conforme cita Groeninga (2005) reconhecida a existência de todos esses elementos citados, o julgador deve conceder a indenização a título de dano moral.
Diante das considerações apresentadas, o capítulo 3 a seguir será desenvolvido visando compreender melhor os elementos que de fato caracterizam a responsabilidade civil.
3 A responsabilidade civil no direito brasileiro
Nos dizeres de Maria Helena Diniz (2010), a palavra" responsabilidade "vem do latimre-spondere, que significa segurança ou garantia de restituição ou compensação. Significa, pois, restituição, ressarcimento.
Conforme Washington de Barros Monteiro (2010) o fundamento da Responsabilidade Civil e penal é praticamente o mesmo. As condições em que surgem é que são diferentes, pois uma é mais exigente do que a outra, quanto ao aperfeiçoamento dos requisitos que devem coincidir para se efetivar.
A responsabilidade penal pressupõe uma turbação social, determinada pela violação da norma penal. O agente infringe uma norma de direito público. O interesse lesado é da sociedade. Na Responsabilidade Civil, o interesse lesado é privado. O prejudicado pode, ou não, pleitear reparação. (MONTEIRO, 2010, p. 160)
O autor explica então que a diferença entre a Responsabilidade Civil e a responsabilidade penal é a distinção entre o direito civil e o direito penal. Na Responsabilidade Civil não se verifica se o ato que causou dano ao particular ameaça, ou não, a ordem social. Desimporta que a pessoa compelida à reparação seja, ou não, moralmente responsável.
A responsabilidade penal envolve dano que atinge a paz social, embora, muitas vezes, atinja um só indivíduo. Esta responsabilidade é intransferível, respondendo o réu com a privação de sua liberdade. Ao Estado incumbe reprimir o crime e deve arcar com o ônus da prova. Na Responsabilidade Civil não é o réu, mas a vítima que, em muitos casos, tem de enfrentar entidades como empresas multinacionais e o próprio Estado (MONTEIRO, 2010, p. 163).
Diniz (2010) cita ainda que no cível qualquer ação ou omissão pode gerar a Responsabilidade Civil, desde que haja violação de direito ou prejuízo de outrem. No crime há a presença da tipicidade: é necessário que haja perfeita adequação do fato concreto ou tipo penal.
Ao descrever sobre os pressupostos da Responsabilidade Civil, Geraldo Ferreira Lanfredi (2006, p. 88), destaca os seguintes:
a) Ação Lesiva: para se configurar a Responsabilidade, é preciso, primeiramente a interferência, o impulso lesivo de alguém na esfera de valores de outrem. Deve haver ação (comportamento positivo) ou omissão (negativo, que cause prejuízo);
b) Dano: dano é qualquer lesão injusta a valores protegidos pelo Direito, incluindo o de caráter moral;
c) Nexo causal: Relação de causa e efeito entre o dado e a ação do agente.
Em outra análise Diniz (2010, p. 199), descreve que a Responsabilidade Civil é um antigo instituto jurídico que pressupõe:
a) Um dano: prejuízo a terceiro, que enseja pedido de reparação consistente na recomposição do status quo ante ou numa importância em dinheiro (indenização);
b) A culpa do autor do dano: violação de um dever jurídico, podendo ser contratual (violação de um dever estabelecido em um contrato) ou extracontratual (violação de um dever legal, que independe de uma relação jurídica preexistente);
c) O nexo de causalidade entre o dano e o fato culposo.
Em linhas gerais, é possível concluir que há Responsabilidade Civil ocorre quando fica determinado o dano, realizado com a interferência ou impulso lesivo de alguém na esfera de valores de outrem, seja a outra pessoa, ambiente, ou patrimônio público.
Importante citar que a Responsabilidade Civil, na visão de Lanfredi (2006), possui fatores geradores.
Segundo o autor, ao cometer um ato ilícito, ou seja, uma ação contrária à ordem jurídica, causando prejuízo, há sujeição à Responsabilidade Civil. Além disso, o sujeito pode ser responsabilizado civilmente ao cometer uma atividade perigosa devido aos riscos inerentes à cada tipo de atividade. Há também propensão à existência da Responsabilidade Civil para aquele sujeito que abusar do direito, ou seja, prejudicar o direito de outrem (LANFREDI, 2006).
Para Paulo Luiz Lobo Neto (2005, p. 47), a Responsabilidade Civil classifica-se em: Responsabilidade Civil com culpa; Responsabilidade Civil transubjetiva; Responsabilidade Civil objetiva.
No primeiro caso, a culpa do agente é essencial, sem a qual não haverá sequer ilícito. No segundo, a culpa é irrelevante, pois a responsabilidade pelo dano por fato de outrem, coisas ou animais é imputada a terceiro. Finalmente, no terceiro caso o simples dano é suficiente à responsabilização do agente.
Merece destaque ainda citar o que ensina Pereira (2007). Segundo o autor, na Responsabilidade Civil subjetiva o fato gerador será sempre um ato ilícito, isto é, uma conduta humana, uma ação ou omissão determinada voluntariamente pela pessoa, ou que esta, pelo menos, poderia controlar, se fosse mais cuidadosa. Na Responsabilidade Civil objetiva o fato gerador poderá ser tanto uma conduta humana, como um fenômeno natural. A conduta humana aqui visada é considerada independente de qualquer ideia de culpa.
Diniz (2010) ensina que o fundamento da Responsabilidade Civil está tanto noneminem laedere (não lesar) dos Romanos, quanto no princípio da equivalência.
Importante considerar que ocorrência da Responsabilidade Civil, exige uma série de pressupostos e Lobo Neto (2005, p. 128) cita os seguintes: o dano, a contrariedade a direito (ou o fato lesivo), a imputabilidade e o nexo de causalidade.
De forma sucinta, a contrariedade a direito ou o fato lesivo se resume à antijuridicidade, no primeiro caso, e à ocorrência de fatos, nada lícitos, potencialmente danosos. No segundo, imputabilidade é a qualidade do responsável pelo fato. O nexo de causalidade, por seu turno, é a relação de causa e efeito entre fato e dano (LOBO NETO, 2005, p. 129).
Pereira (2007) destaca que a antijuridicidade é um dado de natureza objetiva.
Há antijuridicidade quando um ato ou um fato ofende direito alheio de modo contrário ao direito independentemente de qualquer juízo de censura que porventura também possa estar presente e ser referido a alguém. Este fato antijurídico, primeiro pressuposto da obrigação de indenizar, será, de regra, um ato humano, culposo ou não, mas também poderá ser um fato natural, que ofenda direitos de outrem, de forma reprovada pelo ordenamento jurídico. (PEREIRA, 2007, p. 77)
Conforme ensina Monteiro (2010), o nexo de imputação é o fundamento ou a razão de ser da atribuição da responsabilidade a uma determinada pessoa, pelos danos ocasionados ao patrimônio ou à pessoa de outra. Na responsabilidade subjetiva o fundamento de tal imputação é uma atuação culposa: a violação do direito (antijuridicidade) é imputada ao agente a título de dolo ou culpa.
Pereira (2007) destaca que na responsabilidade objetiva o fundamento da imputação é diverso, é uma ideia de risco criado: quem exerce atividade que pode por em perigo pessoas e bens alheios, da mesma forma que aufere benefícios daí resultantes, também deve suportar os prejuízos, independentemente de ter ou não agido com culpa.
Na responsabilidade subjetiva em casos especiais não é o lesado quem tem o ônus da prova do dolo, ou da negligência, imprudência e imperícia do agente: tais casos são os de presunção juris tantum de culpa do agente, em que este, para se liberar, tem de demonstrar que agiu com todos os cuidados que seriam exigíveis, embora sem ter necessidade de provar que o fato se deveu a caso fortuito ou de força maior. (MONTEIRO, 2010, p. 201)
Finalmente vale considerar as palavras de Silvio Rodrigues (2001), quando este autor analisa que a responsabilidade civil objetiva tem como base o princípio de equidade, isso significa que quem colhe benefícios com determinada atividade, responde pelos riscos daí decorrentes. Desse modo é obrigação de reparar determinados danos, acontecidos durante atividades realizadas no interesse ou sob o domínio de alguém que por isso seja responsável, independentemente da culpa.
4 Da possibilidade de indenização por abandono afetivoAbre em nova aba
É muito difícil de provar este tipo de dano, uma vez que é permeado de subjetividade, mas o judiciário há alguns anos é auxiliado por outras formas, no intuito de que pareceres técnicos de outras áreas possam contribuir para a decisão mais justa.
A questão da compensação por abandono afetivo é polêmica e dividem opiniões, a questão é delicada é os juízes devem ter cautela para analisar o caso concreto, alguns julgados têm acolhido a pretensão de filhos que representam contra seus pais por abandono e rejeição, sofrendo dessa forma transtornos psíquicos em razão da falta de afeto e carinho na infância e na adolescência.
No entendimento da juíza de direito Simone Ramalho Novaes:
A preocupação constante de alguns julgadores contrários à indenização por abandono moral é no sentido de que se estaria incentivando a indústria do dano moral ao conceder ao filho, abandonado pelo pai, indenização pecuniária. Embora justificado o entendimento e considerando que muitas vezes a intenção seja somente financeira, não se pode generalizar, sendo necessário examinar cada caso isoladamente. A banalização do dano moral e a mercantilização das relações extrapatrimoniais irão sempre existir em um número de casos, valendo citar como exemplos, algumas reclamações que crescem assustadoramente na Justiça, tais como, negativações individuais no SPC e SERASA, corte indevido no fornecimento de energia elétrica, bloqueio de conta e cartão de crédito, sem que haja comprovado inadimplemento por parte do titular, bagagem extraviada, o sinal da loja que soa, porque o balconista esqueceu-se de retirar o alarme do produto, a mercadoria que não foi entregue dentro do prazo estabelecido.
Enfim, inúmeras situações presenciadas pelos operadores do direito e que, na sua grande maioria, são interpretadas como ofensa a dignidade moral da pessoa. Assim, não podemos deixar de entender que o abandono moral do genitor, o seu descaso com a saúde, educação e bem estar do filho não possa ser considerado como ofensa à sua integridade moral, ao seu direito de personalidade, pois aí sim estaríamos banalizando o dano moral.’’(NOVAES, 2007, p. 40. 45.)
A questão do abandono afetivo na filiação impõe a discussão acerca da possibilidade ou não da reparação do dano moral causado ao filho menor, em razão da atitude omissiva do pai no cumprimento dos encargos decorrentes do poder familiar.
Conforme já apresentado no decorrer dessa monografia, de fato cabe ao filho pleitear indenização por danos morais ocorrida a partir de abandono afetivo de seus progenitores.
Neste capítulo serão apresentados casos ocorridos no Brasil que comprovam essa questão, bem como outras decisões relacionadas ao tema desenvolvido neste trabalho.
O primeiro caso apresentado demonstra que já a partir da análise do Principio da Dignidade Humana, o qual decorre o Principio da Afetividade cabe a reparação.
Cita-se aqui um caso ocorrido em Minas Gerais, no ano de 2004:
INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – RELAÇÃO PATERNO-FILIAL – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE. A dor sofrida pelo filho, em virtude do abandono paterno, que o privou do direito à convivência, ao amparo afetivo, moral e psíquico, deve ser indenizável, com fulcro no princípio da dignidade da pessoa humana (ApC., n. 408.550-5/MG, Rel. JUIZ UNIAS SILVA. TRIBUNAL DE ALÇADA, julgado em 01.04.2004, DJ. 08.09.2004, p. 163)
Nesse sentido, asseverara-se, mais uma vez, que a indenização se afigura possível em razão do descumprimento do dever de convivência familiar, direito fundamental da criança e do adolescente. Corrobora esse entendimento Priscilla Menezes da Silva (2004):
O que se deveria tutelar com a teoria do abandono afetivo é o dever legal de convivência. Não se trata aqui da convivência diária, física, já que muitos pais se separaram ou nem chegam a viver juntos, mas da efetiva participação na vida dos filhos, a fim de realmente exercer o dever legal do poder familiar.
Outro caso similar aconteceu no ano de 2000 e a filha, impetrou ação judicial contra o pai alegando que este a abandonou, em consequência do abandono do lar formado por ele e por sua mãe, alguns meses após o seu nascimento.
A partir de então, segundo depoimento da autora citado por Silva (2004, p. 151), o réu passou a negligenciar a existência da filha, causando sérios danos psicológicos à autora.
Segundo constam nos autos, pouco depois de se separar da mãe, o réu constituiu outra família de onde advieram mais três filhos e estes não foram negligenciados pelo pai.
Silva (2004) descreve que a autora da ação, em seu depoimento alega que por diversas vezes em ocasiões de comemorações religiosas encontrava-se tanto com o pai como com os irmãos e estes fingiam não conhecê-la, como se dela se envergonhassem. Por outro lado, travava os filhos de maneira totalmente diferente, cumprindo de fato a sua responsabilidade de pai para com eles.
Diante deste contexto a autora alega ter crescido estigmatizada pela colônia religiosa da qual faz parte, ter problemas de relacionamento social, timidez e complexos de culpa e inferioridade.
Segundo Silva (2004) a autora impetrou a ação judicial requerendo o pagamento de todos os custos realizados até a data da presente ação com consultas médicas e tratamento psicológico de transtornos causados pelo abandono do pai.
Neste caso, o réu foi citado e apresentou contestações, porém estas foram negadas, pois o Juiz de Direito as considerou controversas demais. Durante o julgamento foram ouvidas as partes e cinco testemunhas, além de juntados laudos psicológicos e periciais que atestavam os problemas da autora.
Da mesma forma que no primeiro caso, em seu veredicto, o Juiz de Direito descreve que não há como obrigar um individuo a ser pai, porém segundo os fundamentos normativos há bases para condenar alguém que não exerceu a sua responsabilidade.
Silva (2004, p. 153) descrevendo as palavras do Juiz ensina que:
A paternidade não gera apenas deveres de assistência material e que, além da guarda, portanto, independente dela, existe um dever, a cargo do pai, de ter o filho em sua companhia. Além disso, o abandono era previsto como causa de perda de pátrio poder, sendo cediço que não se pode restringir a figura do abandono apenas à dimensão material.
A autora ainda prossegue descrevendo a opinião do Juiz:
A par da ofensa à integridade física (e psíquica) decorrente de um crescimento desprovido do afeto paterno, o abandono afetivo se apresenta também como ofensa à dignidade humana, bem jurídico que a indenização do dano moral se destina a tutelar.
Assim, após serem ouvidas as testemunhas e principalmente após apresentados os laudos periciais e psicológicos comprovando não só a existência de problemas psíquicos como também a necessidade de continuar o tratamento o Juiz julgou a ação procedente, condenando o réu a pagar a autora indenização para reparação do dano moral e ofensa à dignidade da pessoa humana.
A título de exemplo, segue parte da decisão judicial do caso apresentado:
(...) Os autos não contêm apenas demonstração de problemas psicológicos de uma filha. Mostram também uma atitude de alheamento de um pai, com o que o réu não está sendo condenado apenas porque sua filha tem problemas, e sim porque deliberadamente se esqueceu da filha. O réu não foi paulatinamente excluído, contra a sua vontade, do convívio com a autora, e sim aproveitou as primeiras dificuldades para ter um pretexto para se afastar, voluntariamente, da requerente. Sustentar que o abandono alegado pela autora é mera distorção criada no imaginário da autora por sua mãe frustrada é um argumento que não se sustenta, em face do comportamento do próprio requerido que se extrai destes autos, até porque o réu não fez nenhuma prova de que em" muitas situações "tenha sido impedido, por fatores alheios à sua própria vontade, de manter relacionamento afetivo com a autora.
Não procede o pedido de indenização de gastos com o tratamento psicológico até agora realizado, pois, segundo o depoimento da testemunha E., quem paga o tratamento é pessoa que não integra o pólo ativo da demanda (fls. 93/94).
O laudo pericial demonstra que há necessidade de continuação do tratamento psicológico.
A indenização do dano imaterial deve ser fixada por equidade pelo juiz, em atenção às circunstâncias do caso. A quantia de cinquenta mil reais se mostra suficiente para proporcionar à autora um benefício econômico relevante, ao mesmo tempo em que inflige ao réu uma perda patrimonial significativa.
Isso posto, julgo parcialmente procedente a ação, para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), com atualização monetária a partir da data desta sentença e juros de mora desde a citação, para reparação do dano moral, e ao custeio do tratamento psicológico da autora, a ser apurado em liquidação. Condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da parte líquida da condenação, o que já leva em conta a sucumbência da requerente.
Outro caso ocorreu em 2003 e da mesma forma foi ajuizada por uma filha contra seu pai. Da mesma forma como no caso anterior apresentado a principal alegação foi o abandono ocorrido desde o nascimento. Segundo constam dos autos do processo citado por Silva (2004), desde o nascimento da autora, o pai, abandonou-a material (alimentos) e psicologicamente (afeto, carinho e amor). Houve por parte da mãe da autora, diversas ações de alimentos e execuções judiciais contra o pai.
Durante a realização de uma das ações impetradas judicialmente pela mãe da autora, o pai comprometeu-se em pagar mensalmente a pensão referente a alimentos e ainda assumir o papel de sua responsabilidade (na educação e acompanhamento da filha). Mas não houve cumprimento do acordo e nem sequer nenhuma demonstração de amor pela filha por parte do pai.
Durante a ação impetrada pela filha, em seu depoimento o pai não contestou nenhuma das informações descritas anteriormente e dessa forma, o Juiz presumiu que todos os fatos são verdadeiros.
Segundo descreve Silva (2004, p. 149) é importante mencionar que de acordo com o art. 22 da Lei nº 8.069/90, o Estatuto da Criança:
A educação abrange não somente a escolaridade, mas também a convivência familiar, o afeto, amor e carinho, ir ao parque, jogar futebol, brincar, passear, visitar, estabelecer paradigmas, criar condições para que a criança se auto afirme. Assim, sendo é até desnecessário, de acordo com a visão da autora, descrever sobre a importância da presença do pai no desenvolvimento da criança, pois a ausência, o descaso e a rejeição do pai em relação ao filho violam, a sua honra e imagem.
Ainda com relação ao caso exposto, Silva (2004) descreve que a partir da não contestação do réu das informações e depoimentos prestados houve o entendimento de abandono e o Juiz julgou que o pai não cumpriu de fato a sua responsabilidade no que se refere à participar da educação, dar amor, carinho e afeto à filha.
Segundo a decisão do Juiz de Direito, citada por Silva (2004, p. 150):
Os prejuízos à imagem e à honra da autora, embora de difícil reparação e quantificação, podem ser objeto de reparação ao menos parcial. Uma indenização de ordem material não reparará, na totalidade, o mal que a ausência do pai vem causando à filha; no entanto, amenizará a dor desta e, talvez propiciar-lhe-á condições de buscar auxílio psicológico e confortos outros para compensar a falta do pai.
Segundo a decisão do Juiz, a favor da autora, o pagamento da indenização teria, nesse caso a função profilática, ou seja, a função reparadora e ainda a função de fazer o pai repensar sobre os seus atos e sua função paterna, ou ao menos, caso este não queira de fato assumir seu papel de pai que evite ter filhos.
Dessa forma, o Juiz julgou procedente a ação de indenização proposta, tomando como base legal o art 330 e o art. 269 do Código de Processo Civil, combinados com o art 5º da Constituição Federal e o art. 22 do Estatuto da Criança.
O Réu ainda foi condenado ao pagamento de todas as custas processuais e honorários do advogado da parte da autora. Porém este recorreu da sentença e até o presente momento o caso ainda não teve solução.
A mais recente decisão com o mesmo tema ocorreu em início de abril de 2014. O processo já corria desde 2005 e após muitas discussões decidiu a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a favor da Filha que pleiteou indenização por danos morais causada por abandono afetivo.
O caso ocorreu em Sorocaba – SP e a indenização chega a cerca de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais). Verificando os detalhes do caso, nota-se que a autora da ação alegou que seu pai a discriminou com relação a outros filhos que tinha.
Na verdade, esta foi uma ação que já tramitava na justiça desde o ano de 2000 tendo diversas decisões, tanto a favor como contra a autora.
Vê-se que de fato existe a possibilidade de indenização por danos morais decorrente de abandono afetivo. Contudo, há inúmeras divergências de entendimento a respeito dessa questão, sendo que a dificuldade provar a real responsabilidade civil é a principal.
Cita-se a seguir opiniões contrárias que comprovam a polêmica. O primeiro exemplo foi a decisão de Fernando Gonçalves, Rel. Min da quarta turma do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, conforme o julgado abaixo:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ABANDONO MORAL. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A indenização por dano moral pressupõe a prática de ato ilícito, não rendendo ensejo à aplicabilidade da norma do art. 159 doCódigo Civil de 1916 o abandono afetivo, incapaz de reparação pecuniária. 2. Recurso especial conhecido e provido. (Resp 757.411/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 29.11.2005, DJ 27.03.2006 p. 299)
Outras decisões similares foram encontradas em pesquisa em sites jurídicos. Segue uma decisao do Tribunal de Justiça do Distrito Federal ocorrida em 2013.
Ementa: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ABANDONOAFETIVO PELOGENITOR. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. A RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL, DECORRENTE DA PRÁTICA ATO ILÍCITO, DEPENDE DA PRESENÇA DE TRÊS PRESSUPOSTOS ELEMENTARES: CONDUTA CULPOSA OU DOLOSA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. 2. AUSENTE O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DO GENITOR E O ABALO PSÍQUICO CAUSADO AO FILHO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PORQUE NÃO RESTARAM VIOLADOS QUAISQUER DIREITOS DA PERSONALIDADE. 3. ADEMAIS, NÃO HÁ FALAR EM ABANDONOAFETIVO,POIS QUE IMPOSSÍVEL SE EXIGIR INDENIZAÇÃO DE QUEM NEM SEQUER SABIA QUE ERA PAI. 4. RECURSO IMPROVIDO.TJ-DF - Embargos de Declaração no (a) ApelaçãoCível EMD1 20090110466999 DF 0089809-17.2009.8.07.0001 (TJ-DF)Abre em nova aba
Da mesma forma apresenta-se outra decisão de caso ocorrida no Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 2010.
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUSCITADO CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRETENDIDA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS DE PROVA, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL, SUFICIENTES À PLENA CONVICÇÃO DO JULGADOR. PRELIMINAR AFASTADA. ALEGADO ABANDONO MATERIAL EAFETIVO DO GENITOR. RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE REALIZADO APENAS MEDIANTE AÇÃO JUDICIAL. REQUISITOS DO ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É curial que a produção de provas (pericial e testemunhal) é dirigida ao juiz da causa e portanto, para a formação de seu convencimento. Logo, se este se sentir habilitado para julgar o processo, calcado nos elementos probantes já existente nos autos, pode, sintonizado com os princípios da persuasão racional e celeridade processual, desconsiderar o pleito de produção de tais provas, sem cometer qualquer ilegalidade ou cerceamento de defesa. 2. Os sentimentos compreendem a esfera mais íntima do ser humano e, para existirem, dependem de uma série de circunstâncias subjetivas. Portanto, o filho não pode obrigar o pai a nutrir amor e carinho por ele, e por este mesmo motivo, não há fundamento para reparação pecuniária por abandonoafetivo.TJ-SC - Apelação Cível AC 292381 SC 2010.029238-1 (TJ-SC)Abre em nova aba
Após a apresentação dos casos, percebe-se que o abandono afetivo nada mais é do que a atitude omissiva do pai no cumprimento dos deveres de ordem moral decorrentes do poder familiar, dentre os quais se destacam os deveres de prestar assistência moral, educação, atenção, carinho, afeto e orientação à prole.
5 Considerações finais
A realização do presente trabalho faz concluir inicialmente que no Brasil, a valorização da família como entidade formadora de princípios e personalidade do individuo, passou despercebida pelos legisladores até a promulgação da Constituição Federal de 1988.
Sobre as alterações sofridas pelo Código Civil Brasileiro, é importante considerar que embora tardia em relação aos países desenvolvidos, o Brasil teve muitas mudanças sociais políticas e econômicas ao longo dos anos, principalmente no último século e dessa forma as necessidades de modificação do Código Civil eram urgentes.
O texto do novo Código trouxe significativa mudança de enfoque na medida em que abandonou o rigorismo formal e o caráter individualista e patrimonial do Código Civil de 1916, característico da sociedade agropatriarcal, para dar lugar a uma concepção voltada ao espírito de valorização da pessoa humana, intimamente ligado também aos aspectos sociais do direito.
O Direito de Família teve uma série de mudanças e inovações, sendo que a maioria destas pretenderam acima de tudo igualar direitos e deveres tanto do pai e da mãe como dos filhos (vindos ou não de casamentos ditos tradicionais).
As novas concepções de família abriram espaço para a discussão de diversos assuntos, antes pouco valorizados na sociedade brasileira, já que considerava-se como “obrigação” do pai, aquela de alimentar e prover o sustento do filho.
Mas hoje em dia, em primeiro lugar, é preciso ressaltar o direito que toda criança tem de conviver com ambos genitores, direito este estabelecido em convenções nacionais e internacionais de direito e códigos elaborados a partir de tais convenções.
É extremamente importante e fundamental para a formação psíquica e social de um individuo a manutenção de uma relação familiar sólida, pois conforme verificado no decorrer deste trabalho é no seio deste grupo que o indivíduo nasce e se desenvolve e vai moldando sua personalidade, ao mesmo tempo em que se integra no meio social.
É na família que o indivíduo encontra conforto e refúgio para a sobrevivência e a participação tanto do pai como da mãe é fundamental para que seja possível obter essa sensação.
Fazendo uma análise do tratamento conferido à entidade familiar, de acordo com os textos constitucionais e seguindo a orientação do Código Civil de 2003, extrai-se a conclusão de que somente a Carta Magna em vigor já é suficiente para garantir, através de seus avanços culturais, sociais e políticos a relação familiar próxima e baseada no cuidado dos pais para com seus filhos e vice-versa.
Como se isso não fosse suficiente, as inúmeras inovações impostas no Código Civilque igualaram homens e mulheres em seus direitos e deveres para com a família, além de confirmar expressamente as diversas concepções e modelos familiares, visaram, sobretudo garantir que os componentes de uma unidade familiar se aproximassem através do afeto, respeito mútuo, direitos e deveres.
Hoje a família é vista de uma maneira muito mais fraternal do que na época em queoCódigo Civil entrou em vigor (1916). País e mães possuem o mesmo direito e o mesmo dever, somando esforços para educar, alimentar, propor o bem estar e formar o caráter de um filho, através do respeito à dignidade humana e relações baseadas no carinho, atenção e afeto.
Assim sendo, a família proposta pelo Código de 1916, baseada na figura patriarcal e na submissão, não deve existir mais. Os pais devem continuar possuindo os mesmos direitos e deveres sobre seus filhos, mas não devem se restringir a apenas o seu sustento. O exercício da “atividade” de ser pai ou mãe deve se estender por tudo que diz respeito ao filho, principalmente na formação de um individuo feliz e consciente de seus direitos e deveres para com a sociedade.
Finalmente cabe dizer que a base de uma família deve, acima de tudo, ser centrada na dignidade da pessoa humana e na solidariedade social e a esse respeito, embora ainda não aprovada e consolidada como modelo na legislação brasileira a guarda compartilhada tem sido utilizada consensualmente por muitos pais no momento da separação e através de acordos espontâneos, é possível estabelecer modelos flexíveis derelação com seus filhos, que vão desde a divisãoigualitária das responsabilidades até a mudançaalternada de residência.
A mesma, na maioria dos casos permite com que pais e filhos tenham uma vida em comum mais saudável e feliz, pois a permissão do convívio comum à família é imprescindível para a formação da criança em qualquer sociedade.
Dentro dessa nova concepção, tanto as crianças quantoos adolescentes, ao menos teoricamente, não mais são expostos aos traumas decorrentes da ausência de um dos pais, muito menos sesentem privados do amor e da orientação materna oupaterna, fundamentais para a sua boa formação ética emoral.
Cabe dizer ainda que o Poder Judiciário não pode obrigar ninguém a ser pai, no entanto aquele que optou em ser pai, principalmente no que se refere a filhos vindos de casamentos tradicionais jamais deve se desincumbir desta função, principalmente em casos de dissolução da sociedade conjugal pois o filho nada tem a ver com o fim do casamento ou da relação afetiva entre os pais.
A função paterna abrange amar os filhos, portanto não basta ser um pai biológico ou prestar alimento aos filhos. Ser pai é aquele que realmente é responsável pelo filho e pelo seu equilíbrio emocional e psíquico.
Referências
BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil. 1988. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03Abre em nova aba/constituição/constitui%C3%A7ao. Htm. Acesso em: 20 abr. 2014.
BRASIL, Lei N. 8.069 de 13 de Julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e Adolescente e dá outras providências. Disponível em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htmAbre em nova aba. Acesso em 23 abr. 2014.
DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 5. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.
DIAS, Maria Berenice; PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de família e o novo código civil. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. 360p.
DINIZ, Maria Helena. Comentários ao Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2009 650p.
FASCHINETTO, Neidemar José. O Direito à convivência familiar e comunitária.Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. 142p.
FREITAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD Nelson. Direito das Famílias: Rio de janeiro: lúmen júris, 2008.
GOMES, Orlando, Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 2008.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro: direito de família. São Paulo: Saraiva, 2005.
GROENINGA, Giselle Câmara. Descumprimento do dever de convivência: danos morais por abandono afetivo: a interdisciplina sintoniza o direito de família com o direito à família. In: HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes (Coord.). A outra face do poder judiciário. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. P. 402-432.
LANFREDI, Geraldo Ferreira. A objetivação da teoria da Responsabilidade Civil e seus reflexos no uso antissocial da propriedade. São Paulo: Revista dos Tribunais, v.2 nº 6 abr/jun, 2006.
LÔBO NETO, Paulo Luiz. Contratos no Código do Consumidor: pressupostos gerais.Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 805, p. 45, jul. 2005.
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. São Paulo, Saraiva, 2010.
MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. 3. Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. 358p.
NOVAES, Simone Ramalho. Pronunciamento acerca de cabimento de indenização por abandono afetivo. EMERJ, Revista da EMERJ. Rio de Janeiro, 2007, p. 40. 45.
PARENTE, José Inácio. Pai presente. Rio de Janeiro: Interior Produções, 2006. 146p.
PEREIRA, Sumaya Saady Morthy. Direitos fundamentais e relações familiares.Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. 186p.
RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil: Responsabilidade Civil 15. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001.
SILVA, Cláudia Maria da. Indenização ao Filho: descumprimento do dever de convivência familiar e indenização por dano à personalidade do filho. Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre, v. 6, n. 25, p.123/147, ago-set. 2004.
TEIXEIRA, Ana Carolina Dias. Responsabilidade civil nos casosde abandono afetivo parental. Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Artigo Científico. 2005.
VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração.7. Ed. São Paulo: Atlas, 2006.