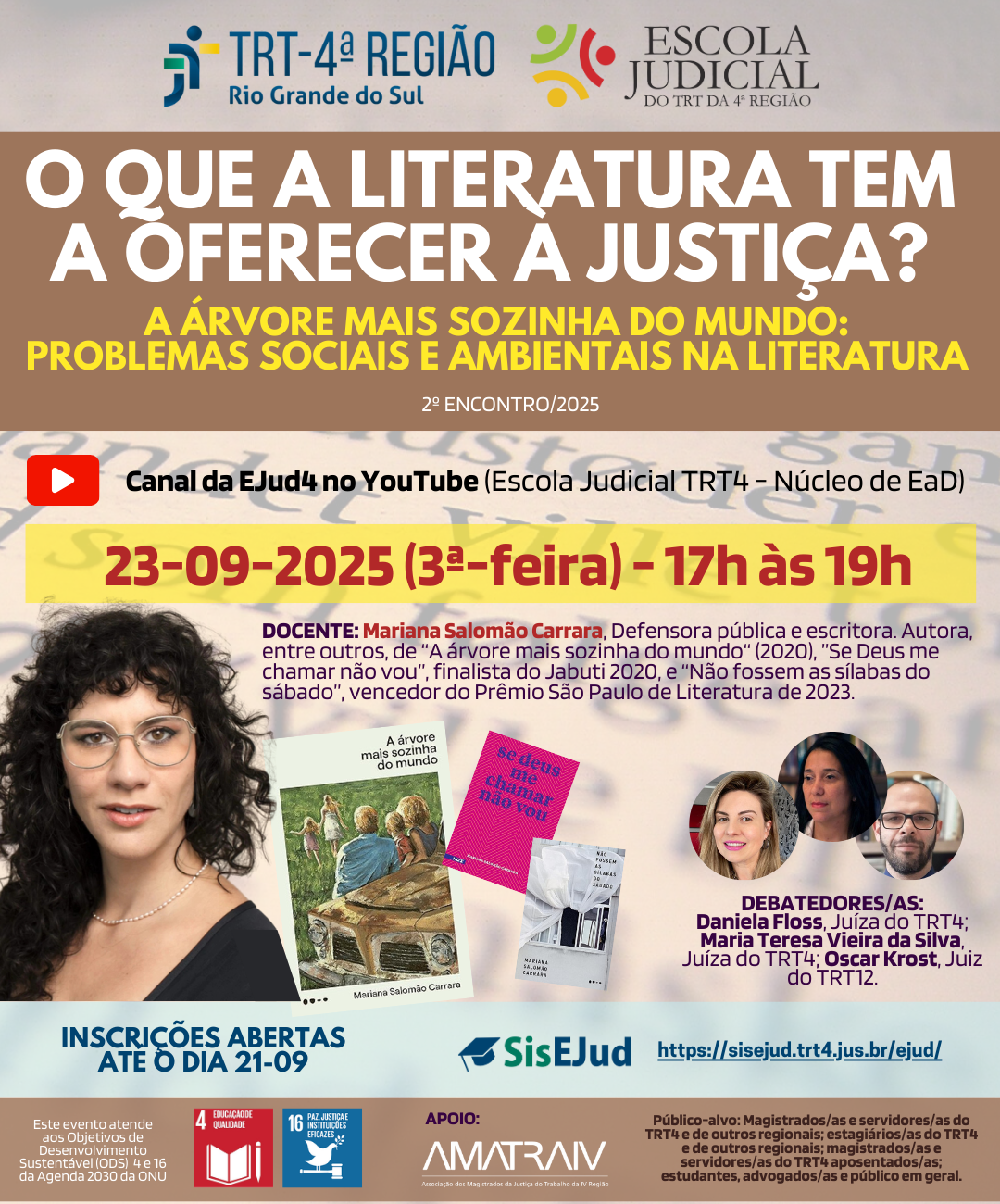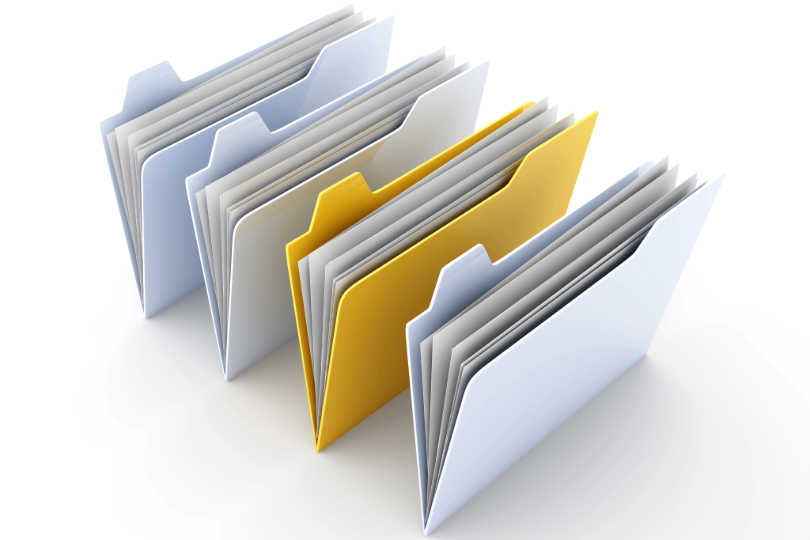Sobre a Terceirização
Introdução
O termo terceirização, segundo Maurício Godinho Delgado (2015, p. 473), “resulta de neologismo oriundo da palavra terceiro, compreendido comointermediário, interveniente. (...) O neologismo foi construído (...) visando enfatizar a descentralização empresarial de atividades para outrem, um terceiro à empresa”.
Assim, na terceirização há a transferência de atividades (mais especificamente, atividades-meio) que, em um primeiro momento, poderiam ser feitas pela própria empresa contratante para uma empresa diversa e, normalmente, especializada naquela atividade.
Ainda nas palavras de Godinho Delgado (2015, p. 473):
Para o Direito do Trabalho terceirização é o fenômeno pelo qual se dissocia a relação econômica de trabalho da relação justrabalhista que lhe seria correspondente. Por tal fenômeno insere-se o trabalhador no processo produtivo do tomador de serviços sem que se estendam a este os laços justrabalhistas, que se preservam fixados com uma entidade interveniente. A terceirização provoca uma relação trilateral em face da contratação de força de trabalho no mercado capitalista: o obreiro, prestador de serviços, que realiza suas atividades materiais e intelectuais junto à empresa tomadora de serviços; a empresa terceirizante, que contrata este obreiro, firmando com ele os vínculos jurídicos trabalhistas pertinentes; e a empresa tomadora de serviços, que recebe a prestação de labor, mas não assume a posição clássica de empregadora desse trabalhador envolvido.
A relação estabelecida na terceirização é, portanto, triangular ou trilateral, pois figuram, nela, três agentes: o obreiro ou empregado, que é quem efetivamente presta o serviço; a empresa prestadora de serviços ou empresa terceirizante, a contratada pela empresa tomadora e com quem o obreiro mantém a relação de emprego; e a empresa tomadora, que recebe a prestação do serviço contratado, mas não está vinculada diretamente ao obreiro.
Nesse sentido, Gustavo Filipe Barbosa Garcia (2015, p.209) dispõe:
Entre o empregado e o empregador (que é uma empresa prestadora de serviços) verifica-se a relação de emprego, ou seja, o contrato de trabalho (art. 422, caput, da CLT).
O vínculo entre o tomador (quem terceirizou alguma de suas atividades) e a empresa prestadora decorre de outro contrato, de natureza civil ou comercial, cujo objetivo é a prestação do serviço empresarial.
Por se mostrar uma forma de contratação de serviços com menor custo e, de certa forma, por oferecer serviços ou produtos de melhor qualidade, no que diz respeito à eficiência, a terceirização é bastante popular atualmente.
Esse modelo, no entanto, sofre restrições da doutrina e jurisprudência justrabalhistas, visando, ao impô-las, tutelar as garantias inerentes à relação de emprego.
Há, ainda, sobre a terceirização, diversas críticas, tanto em sentido favorável como em sentido contrário:
Em linhas gerais, o fenômeno da terceirização possui argumentos favoráveis e contrários. Os favoráveis são: a modernização da administração empresarial com a redução de custos, aumento da produtividade com a criação de novos métodos de gerenciamento da atividade produtiva. Os contrários são: a redução dos direitos globais dos trabalhadores, tais como a promoção, salários, fixação na empresa e vantagens decorrentes de convenções e acordos coletivos. (NETO; CAVALCANTE, 2015, p. 454)
Temos, assim, por escopo analisar no presente trabalho a terceirização, abordando sua evolução histórica, suas previsões legais e jurisprudências acerca do tema.
Evolução Histórica
- Contexto mundial
Conforme Maurício Godinho Delgado (2015, 474), a terceirização é, no Brasil, fenômeno relativamente novo, “assumindo clareza estrutural e amplitude de dimensão apenas nas últimas três décadas do segundo milênio no Brasil”.
A terceirização, contudo, evidencia-se em meados do século XX, em decorrência, principalmente, da Segunda Guerra Mundial.
Nesse sentido, escreve Luiz Guilherme Ribeiro da Cruz[1]:
A partir da Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) surgiu a necessidade de aumento de produtividade na indústria bélica, com o objetivo de manter a oferta de armamento para os países em conflito. Como as grandes fábricas não conseguiam suprir toda a demanda, “A saída encontrada (...) foi remodelar a forma de produção, transferindo atividades não essenciais a outras empresas” [2]. Dessa forma, a indústria percebeu que era necessário voltar seu foco para a produção de material bélico, delegando suas atividades secundárias a terceiros[3].
Com o fim da Segunda Guerra, houve grandes avanços econômicos nos países vencedores. Acerca disso, ensina Maria Ceschin Nicolau[4]:
Após a Segunda Guerra Mundial, as indústrias retomaram sua fase de crescimento e a concretização de um novo avanço do capital. Todavia, com a queda das taxas de lucros, aumento do preço da força de trabalho, desigualdade acentuada na distribuição de rendas, crescimento das empresas multinacionais, aumento de privatizações e a crise do Estado do Bem-Estar Social, da década de 70 e 80 mais um momento de crise do capitalismo. Surgiu-se, então, o chamado “Estado Liberal” ou “Estado Mínimo”, com redução acentuada na forma de regulamentação das questões sociais e econômicas.
(...) A competitividade entre as pessoas em detrimento da solidariedade e a competitividade empresarial mediante a organização dos modos de produção e redução dos custos, provocaram a descentralização das atividades empresariais, o que possibilitou não só a fragmentação da cadeia produtiva como também o surgimento de novas relações de trabalho, como a terceirização.
Além disso, a autora cita ainda os modelos de organização Taylorista/Fordista e Toyotista de divisão de trabalho, modelos estes que já direcionavam à tendência de especificação que se encontra na terceirização.
- Modelo Taylorista/Fordista
Muito embora o modelo Taylorista tenha surgido no final do século XIX, antes, portanto, da Segunda Guerra, há nele características encontradas na terceirização.
Este modelo tinha por finalidade a racionalização da produção, a qual visava o aumento da produtividade. Para isso, a ideia era economizar mão de obra e “otimizar” o tempo de trabalho. Desta maneira, o lucro da empresa aumentaria.
Através do “taylorismo”, o controle do tempo somente foi possível mediante a separação e fragmentação das atividades de planejamento das de execução. Cada trabalhador era fixado em determinado posto de trabalho, sendo treinado para cumprir as tarefas impostas no tempo-padrão de produção, segundo sistematizado pela direção empresarial. (NICOLAU apud DELGADO, 2003, p.44)
No Brasil, o modelo passou a ser utilizado a partir da década de 30.
O modelo Taylorista foi aprimorado por Henry Ford após a Segunda Guerra Mundial, surgindo, então, o Fordismo, sistema que objetivava reduzir ao máximo custos de produção para, desta forma, baratear o produto.
O Fordismo se caracteriza pela produção em massa e foi nele que sem implementou o sistema da esteira rolante, que conduzia o produto enquanto os funcionários executavam, cada um, uma pequena etapa da produção.
No Fordismo, a segmentação dos gestos do taylorismo tornou-se a segmentação das tarefas, o número dos postos de trabalho foi multiplicado, cada um recobrindo o menor número de atividades possíveis. Falava-se, então, de uma parcelização do trabalho, que se desenvolverá igualmente no setor administrativo [5].
Modelo Toyotista
Já o modelo Toyotista surgiu no Japão, por volta de 1945, no período pós guerra.
Foi após a década de 70 que este modelo foi adotado pela maior parte dos empresários em escala mundial e é ele que persiste até os tempos atuais, predominantemente.
Em suma, como lembra Carolina Pereira Marcante, o referido modelo de organização de produção tem como características básicas: a produção vinculada a demanda, ao contrário da produção em massa do fordismo; trabalho operário em equipe, como multivariedade de funções, processo produtivo flexível, que possibilita ao operário manusear simultaneamente várias máquinas; presença do just in time (melhor aproveitamento do tempo de produção); estoques mínimos; senhas de comando para a reposição de peças e estoque; estrutura horizontalizada – apenas 25% (vinte e cinco por cento) da produção é realizada pela própria empresa, o restante é realizado por empresas terceirizadas; organização de círculos de controle de qualidade, compostos de empregados, que são instigados a melhorar seu trabalho e desempenho[6].
- Contexto nacional
Posto isto, voltemos, então, ao cenário nacional.
O autor Godinho Delgado (2015, p. 474) ressalta os artigos 455 e 652, a, IIIda CLT que tratam da empreitada e subempreitada e da pequena empreitada, respectivamente, figuras delimitadas de subcontratação de mão de obra. A terceirização, na década de 40, época na qual foi elaborada a CLT, não constituía “fenômeno com a abrangência assumida nos últimos trinta anos do século XX”. Não há, além destas, outras alusões de destaque, seja jurisprudenciais, seja em textos legais, acerca da terceirização, dado que o modelo básico de organização das relações de produção era “fundado no vínculo bilateral empregado-empregador”.
Foi apenas no fim da década de 60 e início dos anos 70 que “a ordem jurídica instituiu referência normativa mais destacada ao fenômeno da terceirização (ainda não designado por tal epíteto nessa época, esclareça-se)”[7]. No entanto, tal menção dizia respeito somente ao segmento estatal do mercado de trabalho, dados o Decreto-Lei n.200/67 (art. 10) e Lei n.5.645/70, por exemplo.
A Lei n. 6.019/74 (Lei do Trabalho Temporário) foi a primeira legislação heterônoma que tratou especificamente da terceirização, cuidando, inclusive, da terceirização no campo privado da economia. Após esta, promulgou-se a Lei n. 7.102/83, que também autorizava a terceirização em relação à vigilância bancária.
O autor salienta, ainda, a expansão no segmento privado da economia da incorporação da prática de terceirização da força de trabalho, mesmo com a carência de textos legais que tratassem do assunto.
A partir das décadas de 80 e 90, a jurisprudência trabalhista passou, também, a cuidar do tema. Foram, nesta época, editadas pelo Tribunal superior do Trabalho as súmulas n. 256, de 1986, e n. 331, de 1993, esta produzindo revisão daquela.
É que se tem, hoje, clara percepção de que o processo de terceirização tem produzido transformações inquestionáveis no marcado de trabalho e na ordem jurídica trabalhista do país. Falta, contudo, ao mesmo tempo, a mesma clareza quanto à compreensão exata da dimensão e extensão dessas transformações. Faltam, principalmente, ao ramo justrabalhista e seus operadores os instrumentos analíticos necessários para suplantar a perplexidade e submeter o processo sociojurídico da terceirização às direções essenciais do Direito do Trabalho, de modo a não propiciar que ele se transforma em antítese dos princípios, institutos e regras que sempre foram marca civilizatória e distintiva desse ramo jurídico no contexto da cultura ocidental. (DELGADO, 2015, p. 475)
Normatividade Jurídica sobre Terceirização
A consagração da terceirização pelo sistema econômico nas últimas décadas tem colidido com o expresso nos artigos 2º, caput, e 3º, caput, daCLT[8], que regulam a clássica relação empregatícia bilateral.
Como já mencionado, em meados da década de 60 foram promulgados os textos normativos que, segundo Godinho (2015, p. 476), “estimulavam a prática de descentralização administrativa, através da contratação de serviços meramente executivos ou operacionais perante empresas componentes do seguimento privado da economia”, quais sejam, o art. 10do Decreto-lei n. 200/67 e a Lei n. 5.645/70.
Assim, dispunha o artigo 10, § 7º, do Decreto-lei n. 200:
“Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle com o objetivo de impedir o crescimento desmensurado da maquina administrativa, a Administração procurará desobrigar-se da realização material das tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, a execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução.”
A Lei n. 5.645 trazia em seu artigo 3º, parágrafo único, um rol exemplificativo, mencionando alguns dos encargos de execução, aludidos no dispositivo anterior:
"As atividades relacionadas com transporte, conservação, custódia, operação de elevadores, limpeza e outras assemelhadas serão, de preferência, objeto de execução mediante contrato, de acordo com o art.10, § 7º, do Decreto-lei n. 200...”
Desta forma, temos a autorização legal da terceirização no âmbito das atividades estatais limitada as atividades-meio.
No segmento privado do mercado laborativo, no entanto, somente a Lei do Trabalho Temporário (Lei n. 6.019, de 1974) regulava, de certa forma, o “processo” de terceirização que ocorria no Brasil e, ainda assim, seus efeitos eram restritos a contratos de curta duração. Após quase 10 anos desta, foi promulgada a Lei n. 7.102, de 1983, que regulava, finalmente, a sistemática de terceirização permanente, mas, novamente, os efeitos do texto legal se restringiam, desta vez, aos trabalhadores vinculados à segurança bancária.
Nesse sentido, discorre Maurício Godinho Delgado (2015, p. 476):
Não obstante esse pequeno grupo de normas autorizativas da terceirização, tal processo acentuou-se e generalizou-se no segmento privado da economia nas décadas seguintes a 1970 – em amplitude e proporção muito superior às hipóteses permissivas contidas nos dois diplomas acima mencionados. Tais circunstâncias induziram à realização de esforço hermenêutico destacando por parte dos tribunais do trabalho, na busca da compreensão da natureza do referido processo e, afinal, do encontro da ordem jurídica a ele aplicável.
Destarte, com as alterações ocorridas pela Lei n. 8.863, de 1994, “alargou-se o âmbito de atuação de tais trabalhadores e respectivas empresas”[9], adequando-se, segundo o autor, à tal modalidade a vigilância patrimonial de qualquer instituição e estabelecimento público ou privado, inclusive no que diz respeito a segurança de pessoas físicas, além do transporte ou garantia do transporte de qualquer tipo de carga.
A Lei n. 8.863 incluiu, ainda, um parágrafo único ao artigo 442 da CLT, dispondo: “Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela”.
Desta forma, favoreceu-se a prática cooperativista da terceirização, criando uma presunção de ausência de vínculo empregatício. Se, no entanto, a relação estabelecida estivesse caracterizada por todos os elementos fático-jurídicos da relação de emprego, esta, obviamente, seria reconhecida.
Em 2012, foi promulgada a Lei n.12.690, que regula as “Cooperativas de Trabalho” e, reforçando a ideia supramencionada, estabelece em seu artigo5º que “A Cooperativa de Trabalho não pode ser utilizada para intermediação de mão de obra subordinada”.
Desse modo, seja quando configurada a relação de emprego entre a entidade cooperativista e seu sócio cooperado, seja quando configurada esta relação com a entidade tomadora de serviços, seja quando não atendidos os princípios inerentes ao cooperativismo (...), esvai-se o envoltório formal cooperativista, prevalecendo a relação de emprego, quer com a entidade cooperada, quer com o tomador de serviço.
Por sua vez, o advento da súmula 331 do TST, que, atualmente, é um dos principais elementos normativos acerca da terceirização, nos traz um rol de critérios acerca de sua legalidade ou não:
Súmula nº 331 do TST
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador de serviços salvo no caso de trabalho temporário (Lei n. 6.019, de 3.1.1974).
II. A contratação irregular de trabalhador, através de empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os Órgãos da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional (art. 37, II, daCF/88).
III. Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei 7.102, de 20.6.1983), de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade – meio do tomador dos serviços, desde que inexista a pessoalidade e a subordinação direta.
IV. O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também do título executivo judicial.
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa.
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.
Além dela, com as privatizações das entidades estatais no Brasil na década de 1990, foram promulgadas leis que visavam regular alguns segmentos e atividades que vinham sendo privatizados. Assim, vieram a Lei 8.987, de 1995, tratando acerca do regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos na área elétrica, e a Lei n. 9.472, de 1997, tratando sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos na área de telefonia. Essas leis, segundo a jurisprudência, devem ser lidas e interpretadas conforme a Constituição e o Direito do Trabalho.
Por sua vez, a Constituição Federal de 1988 traz em seu texto claras limitações ao processo de terceirização, ainda que não a regule especificamente.
Os limites da Constituição ao processo terceirizante situam-se no sentido de seu conjunto normativo, quer nos princípios, quer nas regras assecuratórias da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), da valorização do trabalho e especialmente do emprego (art. 1º, III, combinado com o art. 170, caput), da busca de construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I), do objetivo de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais (art. 3º, III), da busca da promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV). (DELGADO, 2015, p. 483/484)
Nesse sentido, Neto e Cavalcante (2015, p. 455) afirma ser a terceirização “incongruente com a ordem constitucional do trabalho, com o princípio do não retrocesso social e com os objetivos da OIT[10] que não admitem a ideia do trabalho humano como mercadoria”.
Tal disparidade ocorre, por exemplo, pela tendência de se substituir a mão de obra permanente pela intermediação, havendo, portanto, a contratação por prazo determinado, o que promove, consequentemente, a perda da vinculação jurídica dos trabalhadores com as empresas para as quais prestam serviço. Isso colide diretamente com o princípio da continuidade das relações jurídicas laborais[11].
Jurisprudência Trabalhista acerca da Terceirização
Sobre este tema, Mauricio Godinho Delgado (2015, p. 485) discorre:
A jurisprudência trabalhista digladiou-se desde a década de 1970 em torno do tema da terceirização (embora esse epíteto, como visto, tenha se consagrado apenas posteriormente na tradição jurídica do país). O laconismo de regras legais em torno de tão relevante fenômeno sociojurídico conduziu à prática de intensa atividade interpretativa pela jurisprudência, em sua busca de assimilar a inovação sociotrabalhista ao cenário normativo existente no país.
Temos, portanto, sobre a terceirização não um texto legal que a regule especificamente, mas construções e entendimentos jurisprudenciais acerca do tema, definindo, por exemplo, quando ela é lícita e quais requisitos devem ser preenchidos para que o seja considerada como tal.
Desta maneira, na década de 80, antes, portanto, da promulgação da atualConstituição Federal, foi fixada pelo Tribunal Superior do Trabalho a súmula 256, que possuía cunho limitativo acerca das hipóteses de contratação de trabalhadores por empresa interposta. Tal súmula declarava:
“Salvo nos casos previstos nas Leis nºs. 6.019, de 03.01.1974, e 7.102, de 20.06.1983, é ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços.”
Logo, a regra geral de contratação permanecia sendo a do padrão empregatício estabelecido pela CLT. Com isso, caso a relação terceirizada fosse considerada ilícita por não respeitar os limites de contratação estabelecidos nas Leis nºs. 6.019 e 7.102, únicas hipóteses cabíveis conforme a súmula supramencionada, era determinado o vínculo empregatício clássico com o efetivo tomador de serviços.
Godinho Delgado (2015, p. 485) afirma que “(...) a mencionada súmula pareceu fixar um leque exaustivo, de exceções terceirizantes (Leis n.6.019/74 e 7.102/83), o que comprometia sua própria absorção pelos operadores jurídicos”.
Além disso, junto ao advento da Constituição de 1988, veio, em seu art. 37,II e § 2º[12], a vedação expressa de admissão de trabalhadores por entes estatais sem concurso público, o que contrariava, portanto, a súmula 256.
No final de 1993, diante de tais disparidades, foi feita a revisão de tal súmula, quando foi editada, por sua vez, a Súmula 331, do TST, já elucidada no tópico anterior.
Originalmente, a súmula continha apenas os quatro primeiro itens presentes, atualmente, nesta súmula, quais sejam:
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador de serviços salvo no caso de trabalho temporário (Lei n. 6.019, de 3.1.1974).
II. A contratação irregular de trabalhador, através de empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os Órgãos da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional (art. 37, II, daCF/88).
III. Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei 7.102, de 20.6.1983), de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade – meio do tomador dos serviços, desde que inexista a pessoalidade e a subordinação direta.
IV. O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, desde que tenha participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.
No ano de 2000, o inciso IV da súmula 331 recebeu nova redação, ficando sua estrutura da seguinte maneira:
IV. O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também do título executivo judicial. (grifo nosso)
Em 2010, foi prolatada decisão do STF acerca da ADC 16. Tal decisão afastava a responsabilidade objetiva do Estado em casos de terceirização (além da responsabilidade por culpa in iligendo, desde que observado o processo licitatório)[13]. Diante disso, o item IV da súmula foi direcionada ao conjunto da economia e da sociedade, além de ter sido incluído o item V.
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa.
Foram, assim, incorporadas à súmula as hipóteses de terceirização previstas no Decreto-lei n. 200/67 e na Lei n. 5.645/70, referentes à prestação de serviços relacionados à conservação e limpeza e atividades-meio, acolhendo, ainda, a vedação constitucional de servidores (em sentido amplo) sem a formalidade do concurso público[14].
No corpo dessas alterações uma das mais significativas foi a referência à distinção entre atividades-meio e atividades-fim do tomador de serviços (...) e que, em certa medida, harmonizava-se com o conjunto normativo da nova Constituição de 1988. Essa distinção (...) marcava um dos critérios de aferição da licitude (ou não) da terceirização perpetrada.
Outra marca importante da súmula foi buscar esclarecer o fundamental contraponto entre terceirização lícita versus terceirização ilícita. (DELGADO, 2015, p. 487)
A última alteração feita na súmula 331 foi em maio de 2011, por meio da Resolução 174, quando foi inserido um sexto item a ela:
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.
Nesse sentido, vejamos a seguinte jurisprudência:
Processo: RR 865003120035040001 86500-31.2003.5.04.0001
Relator (a): Márcio Eurico Vitral Amaro
Julgamento: 30/11/2011
Órgão Julgador: 8ª Turma
Publicação: DEJT 12/12/2011
EMENTA:
RECURSO DE REVISTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TERCEIRIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO COM A TOMADORA DE SERVIÇOS. ÓRGÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 331, II, TST.
O Regional manteve a sentença que, embora considerando nulo o contrato de trabalho, por ausência do requisito de submissão do Reclamante a concurso público, declarou a existência de vínculo de emprego diretamente com a tomadora, Caixa Econômica Federal, em razão da existência de fraude na contratação de empresa interposta, ao arrepio do art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal e da Súmula 331, II, do TST, impondo-se a revisão do julgado no sentido de restabelecer o vínculo de emprego com a prestadora de serviços, evitando-se o lançamento do Reclamante num limbo jurídico em que não seja empregado de ninguém, e, à míngua de análise do pedido sucessivo de responsabilidade subsidiária da CEF, a devolução dos autos ao TRT de origem a fim de verificar eventual ocorrência de sua culpa -in vigilando-. Recurso de Revista conhecido e provido. RECURSO DE REVISTA DA PROBANK S. A.
- Prejudicado, em face do afastamento do vínculo de emprego com a CEF e da devolução dos autos ao TRT de origem.
Temos na ementa acima exposta um exemplo da aplicação prática da súmula 331, bem como uma referência ao art. 37, II e § 2º, mencionado anteriormente.
Terceirização Lícita e Ilícita
Temos na súmula 331, portanto, a principal referência relativamente à terceirização. É ela a responsável pela consolidação do entendimento de que apenas podem ser terceirizadas atividades-meio e atividade inicial, conforme elucidam Jorge Neto e Cavalcante (2015, p. 460), ficando coibida, portanto, a terceirização de atividades-fim, sendo esta ilícita.
Os autores entendem que o estágio inicial da terceirização são atividades de limpeza, conservação e vigilância, que denotam apoio à empresa.
Na terceirização, atividade-meio consiste no apoio a setores dentro da empresa tomadora que se interligam ao processo produtivo, mas não na sua atividade-fim, tais como: assessoria jurídica ou contábil, locação de automóveis, fotografias e revelações, mecânica e pintura. (NETO; CAVALCANTE, 2015, p. 460)
Por sua vez, Maurício Godinho Delgado (2015, p. 489) entende atividades-meio como “aquelas funções e tarefas empresariais e laborais que não se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do tomador dos serviços, nem compõem a essência dessa dinâmica ou contribuem para a definição de seu posicionamento no contexto empresarial e econômico mais amplo”. Ele exemplifica essas atividades citando transporte, conservação, custódia, limpeza, além de atividades de estrito apoio logístico ao empreendimento etc. Temos, portanto, no entendimento de Godinho Delgado o estágio inicial da terceirização e as atividades-meio unidas na figura única desta última.
Temos por atividade-fim aquelas “nucleares e definitórias da essência da dinâmica empresarial do tomador de serviços”[15].
(...) a jurisprudência admite a terceirização apenas enquanto modalidade de contratação de prestação de serviços entre duas entidades empresariais, mediante a qual a empresa terceirizante responde pela direção dos serviços efetuados por seu trabalhador no estabelecimento da empresa tomadora. A subordinação e a pessoalidade, desse modo, terão de se manter perante a empresa terceirizante e não diretamente em face da empresa tomadora dos serviços terceirizados. (...)
O trabalho temporário (Lei n. 6.019) diz respeito, desse modo, à única situação de terceirização lícita em que se permite a pessoalidade e subordinação diretas do trabalhador terceirizado perante o tomador de serviços. (DELGADO, 2015, p. 490)
Desta forma, temos que para a caracterização da atividade terceirizada lícita, esta não pode apresentar perante a empresa tomadora a subordinação e a pessoalidade do funcionário, além, claro, de não se tratar de atividade-fim. Apresentada qualquer destas características, a terceirização se torna ilícita. Desta maneira, o vínculo empregatício pode ser reconhecido.
Por fim, para melhor compreensão do exposto, vejamos a seguinte jurisprudência, referente à ilicitude da terceirização:
Processo: 00020296220125020053 A28
Relator (a): MAURILIO DE PAIVA DIAS
Julgamento: 28/04/2015
Órgão Julgador: 5ª Turma
Publicação: 05/05/2015
EMENTA:
Auxiliar de Serviços Administrativos. Desempenho de Atividades Tipicamente Bancárias. Terceirização Ilícita. Responsabilidade Solidária. Configuração. Analisando-se o conjunto da prova oral produzida, exsurge que a reclamante, como bem assentado pela Instância de origem, desenvolvia atribuições intimamente ligadas à atividade fim do banco reclamado, já que a efetiva compensação de cheques e depósitos, mediante o débito e crédito nas contas envolvidas, pressupõe, por óbvio, a triagem, inserção e conferência dos valores e documentos envolvidos na transação. Todas, portanto, atividades inerentes a operações de crédito, típica dos bancos, nos termos do art. 17 da Lei 4.595/64. As atividades desempenhadas pela reclamante, em verdade, são as mesmas tradicionalmente realizadas pela quase extinta classe dos caixas dos bancos, hoje esmagadoramente substituídos pelos terminais de autoatendimento. Nesse contexto, impõe-se a manutenção da r. Sentença guerreada, que reconheceu da ilicitude da terceirização havida e, em consequência, declarou a existência de vínculo de emprego diretamente entre a autora e o banco reclamando, bem como a condição de bancária da recorrida, deferindo-lhe, ato contínuo, os respectivos direitos assegurados pela legislação específica e normas coletivas juntadas aos autos. Ante o caráter ilícito da terceirização, as reclamadas respondem solidariamente pelas verbas decorrentes da condenação, nos termos do art. 942, caput, do Código Civil. (grifo nosso)
Já, em sentido contrário a esta, temos no seguinte acórdão o reconhecimento da licitude da relação terceirizada:
Processo: 00003321720145020447 A28
Relator (a): BENEDITO VALENTINI
Julgamento: 03/03/2016
Órgão Julgador: 12ª Turma
Publicação: 11/03/2016
EMENTA:
TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-MEIO. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. LICITUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INOCORRÊNCIA. SUBSIDIARIEDADE RECONHECIDA. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou do contrato, art. 265 doCódigo Civil. No caso, as reclamadas não compõem grupo econômico e não se enquadram em qualquer hipótese legal que lhes atribua a condição de devedoras solidárias. Tampouco se tem notícia de contrato firmado entre elas a prever a responsabilidade da recorrente pelos encargos trabalhistas da contratada. E a terceirização em atividade-meio, como no caso, dos serviços de limpeza da segunda para a primeira reclamada, empresa especializada nessa prestação, é lícita e amplamente admitida pela jurisprudência, item III da Súmula 331 do TST. Nesse contexto, e em que pesem os bem elaborados fundamentos da sentença, a responsabilidade da recorrente pelos créditos trabalhistas da obreira é subsidiária, e não solidária. Inteligência e aplicação dos itens III e IV da citada Súmula 331. Recurso ordinário provido para alterar a modalidade da responsabilidade patrimonial imputada à recorrente, de solidária para subsidiária (grifo nosso).
Referências Bibliográficas
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 14ª edição São Paulo: LTR, 2015.
NETO, Francisco Ferreira Jorge; CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. Direito do Trabalho, 8ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2015.
GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Manual de Direito do Trabalho, 8ª edição. São Paulo: Editora Método, 2015.
NICOLAU, Maria Ceschin. Terceirização no Direito do Trabalho. Disponível em:. Acesso em abr 2016.
CRUZ, Luiz Guilherme Ribeiro da. A terceirização trabalhista no Brasil: aspectos gerais de uma flexibilização sem limite. Disponível em:. Acesso em abr 2016.
MACIEL, Leonardo. Aspectos históricos da terceirização no Direito do Trabalho. Disponível em:. Acesso em abr 2016.
[1] CRUZ, Luiz Guilherme Ribeiro da. A terceirização trabalhista no Brasil: aspectos gerais de uma flexibilização sem limite. Disponível em:. P. 2. Acesso em abr 2016.
[2] FELÍCIO, Alessandra Metzger; HENRIQUE, Virgínia Leite.Terceirização: caracterização, origem e evolução jurídica. In DELGADO, Gabriela Neves; HENRIQUE, Carlos Augusto Junqueira (Coord).Terceirização no Direito do Trabalho. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, p. 81.
[3] CASTRO, Rubens Ferreira de. A terceirização no Direito do Trabalho. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 75.
[4] NICOLAU, Maria Ceschin. Terceirização no Direito do Trabalho. Disponível em:. P. 6. Acesso em abr 2016.
[5] NICOLAU, Maria Ceschin. Terceirização no Direito do Trabalho. Disponível em:. P. 8. Acesso em abr 2016.
[6] NICOLAU, Maria Ceschin. Terceirização no Direito do Trabalho. Disponível em: apud MARCANTE, Carolina Pereira. A responsabilidade subsidiária do Estado pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços terceirizados. Disponível em: www.jus.com.brAbre em nova aba.
[7] DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 14ª edição São Paulo: LTR, 2015. P. 474.
[8] CLT, Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
[9] DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 14ª edição São Paulo: LTR, 2015. P. 478.
[10] Organização Internacional do Trabalho.
[11] “Pelo princípio da continuidade das relações jurídicas laborais, torna-se importante a fixação indeterminada dos contratos de trabalho, respeitando-se os direitos mínimos previstos em lei e os mais benéficos decorrentes do contrato de trabalho ou instrumentos normativos.
Nesse particular, a terceirização é incongruente com o Direito do Trabalho. A integração do trabalhador à empresa é uma forma de conservação de sua fonte de trabalho, dando-lhes garantias quanto ao emprego e à percepção de salários. É fator de segurança econômica”. (NETO; CAVALCANTE. 2015, p. 455)
[12] Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
[13] DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 14ª edição São Paulo: LTR, 2015. P. 486.
[14] DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 14ª edição São Paulo: LTR, 2015. P. 487.
[15] DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 14ª edição São Paulo: LTR, 2015. P. 488.