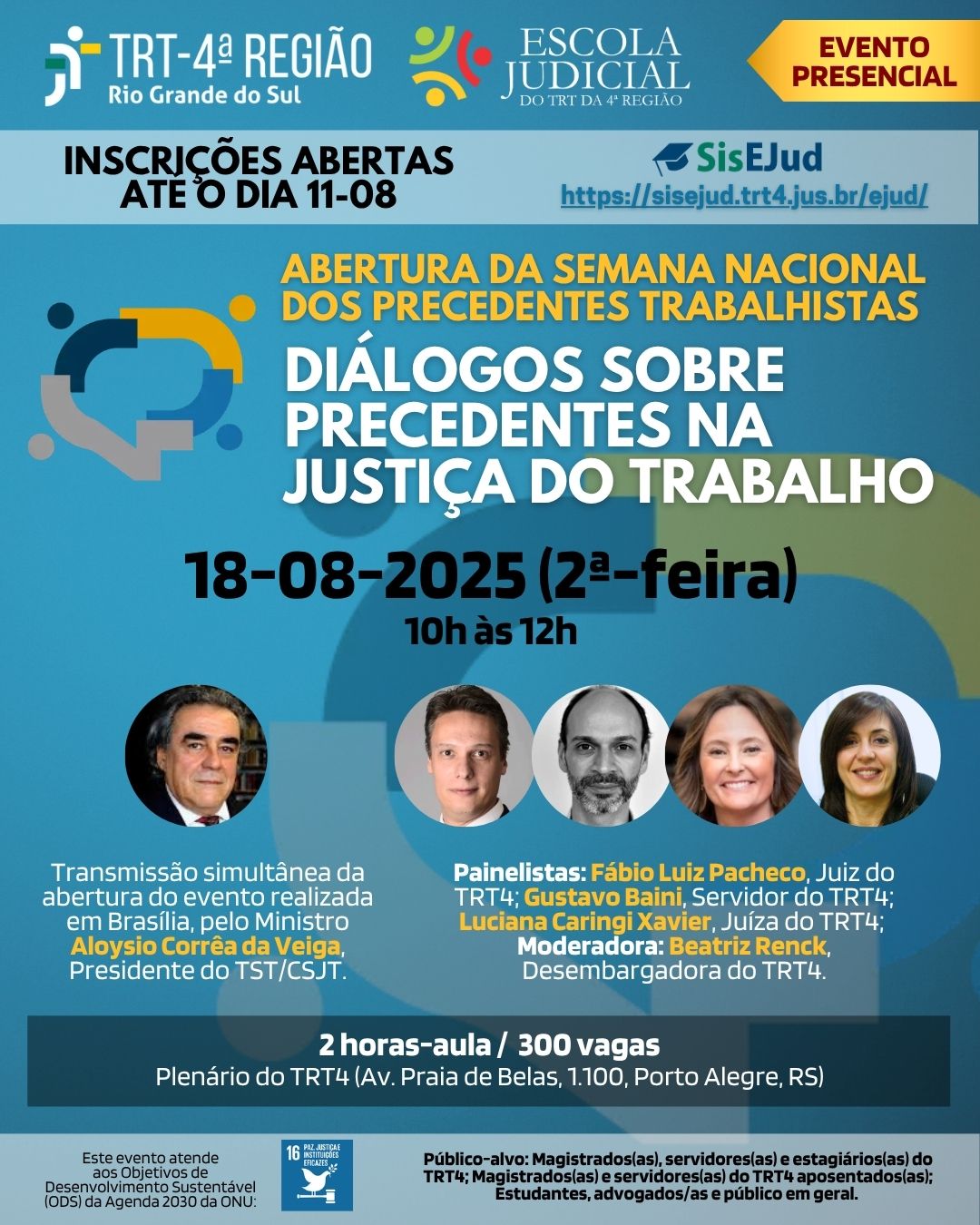Escola Judicial discutiu transição do trabalho escravo ao livre e direitos sociais nas constituições brasileiras
A Escola Judicial do TRT da 4ª Região (RS) recebeu, na tarde da última sexta-feira (25), três estudiosos que abordaram o tema "Da Constituição Liberal ao Constitucionalismo Social - 1824, 1934, 2014". O historiador e professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Renato Pinto Venâncio, falou sobre os conflitos entre emancipacionistas, abolicionistas e escravistas na transição do trabalho escravo para o trabalho "livre", no Brasil. O desembargador aposentado do TRT-RS, Paulo Ordoval Particheli Rodrigues, discorreu sobre a legislação trabalhista até a Era Vargas. Já o professor da Universidade de São Paulo (USP), Gilberto Bercovici, analisou a formação do constitucionalismo social no país. O evento ocorreu no auditório Ruy Cirne Lima e foi prestigiado por juízes e desembargadores do Trabalho da 4ª Região, além de servidores, estudantes e demais interessados pelos temas.
Segundo o professor Venâncio, a transição do trabalho escravo para "livre" foi um processo lento e gradual no Brasil, sem que tenha sido completado até os dias atuais. Isto porque, como observou o historiador, as fiscalizações do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério Público do Trabalho têm encontrado milhares de trabalhadores submetidos a condições análogas às de escravo.
O historiador explicou que, no caso da extinção da escravidão legal, o processo foi conflituoso e envolveu três grupos distintos: os emancipacionistas, os abolicionistas e os escravistas. O primeiro grupo tinha como estratégia a elaboração de leis que, aos poucos, extinguissem o escravagismo no Brasil. Exemplos deste entendimento foram as leis que proibiram o tráfico de escravos (1850) e a lei do Ventre Livre (1871), pela qual seriam livres os escravos nascidos a partir da promulgação da lei. Já para os abolicionistas, a escravidão deveria ser extinta de forma abrupta, a partir de uma lei. Esse grupo, segundo Venâncio, ganhou força nos anos 1880, principalmente após a abolição realizada pelo estado do Ceará.
Os escravistas, conforme o professor, eram os detentores de escravos que utilizavam como argumento a ilegalidade da intervenção do Estado na propriedade privada, já que escravos eram "bens". Eles, segundo Venâncio, acabaram perdendo a batalha para os abolicionistas, mas deram como "troco" a proclamação da República, que continuou sob seu domínio. "Por isso a transição do trabalho escravo para o livre no Brasil foi tão lenta", avaliou o historiador.
Manifestações esparsas
Em prosseguimento ao painel, o desembargador aposentado do TRT-RS, Paulo Orval Particheli Rodrigues, ensinou que o período que vai da independência do Brasil até os anos de 1930 (era Vargas) é considerado pelo jurista Maurício Godinho Delgado como de "manifestações incipientes ou esparsas do Direito do Trabalho". "A princípio, onde não há trabalho livre, não há Direito do Trabalho", afirmou Paulo Orval. "Mesmo assim, algumas categorias, como os trabalhadores dos transportes marítimos e fluviais, possuíam algumas normas trabalhistas", observou.
O magistrado referiu-se também a outros exemplos de regulamentação trabalhista implementados neste período. Dentre eles, decretos de 1830 que instituíam normas para locação de serviço e empreitada, o Código Comercial de 1843, que falava em aviso prévio e também em locação de serviços, lei de 1879 que regulava as parcerias agrícolas e pecuárias.
Após a abolição da escravatura, conforme Particheli, houve um crescimento vertiginoso da classe operária, o que obrigou o Estado a elaborar algumas leis importantes. O desembargador citou, entre elas, a lei Elói Chaves, que instituiu as caixas de aposentadorias e pensões para os ferroviários, e normas que regulamentaram a estabilidade decenal (após os dez anos de trabalho em uma empresa).
Constituições sociais
A última explanação da tarde ficou a cargo do professor Gilberto Bercovici. Ele destacou que a primeira Constituição que abordou direitos sociais foi elaborada em 1934, já na Era Vargas. Como antecedentes deste texto legal, o estudioso citou as constituições mexicana (1917) e alemã (1919), tidos como marcos históricos para o chamado "constitucionalismo social moderno".
De acordo com Bercovici, a discussão central das chamadas constituições sociais giram sempre em torno dos questionamentos sobre como regulamentar direitos e incorporar cidadãos à sociedade. Este pano de fundo, conforme o professor, pautou as constituições brasileiras de 1934, 1946 e 1988.